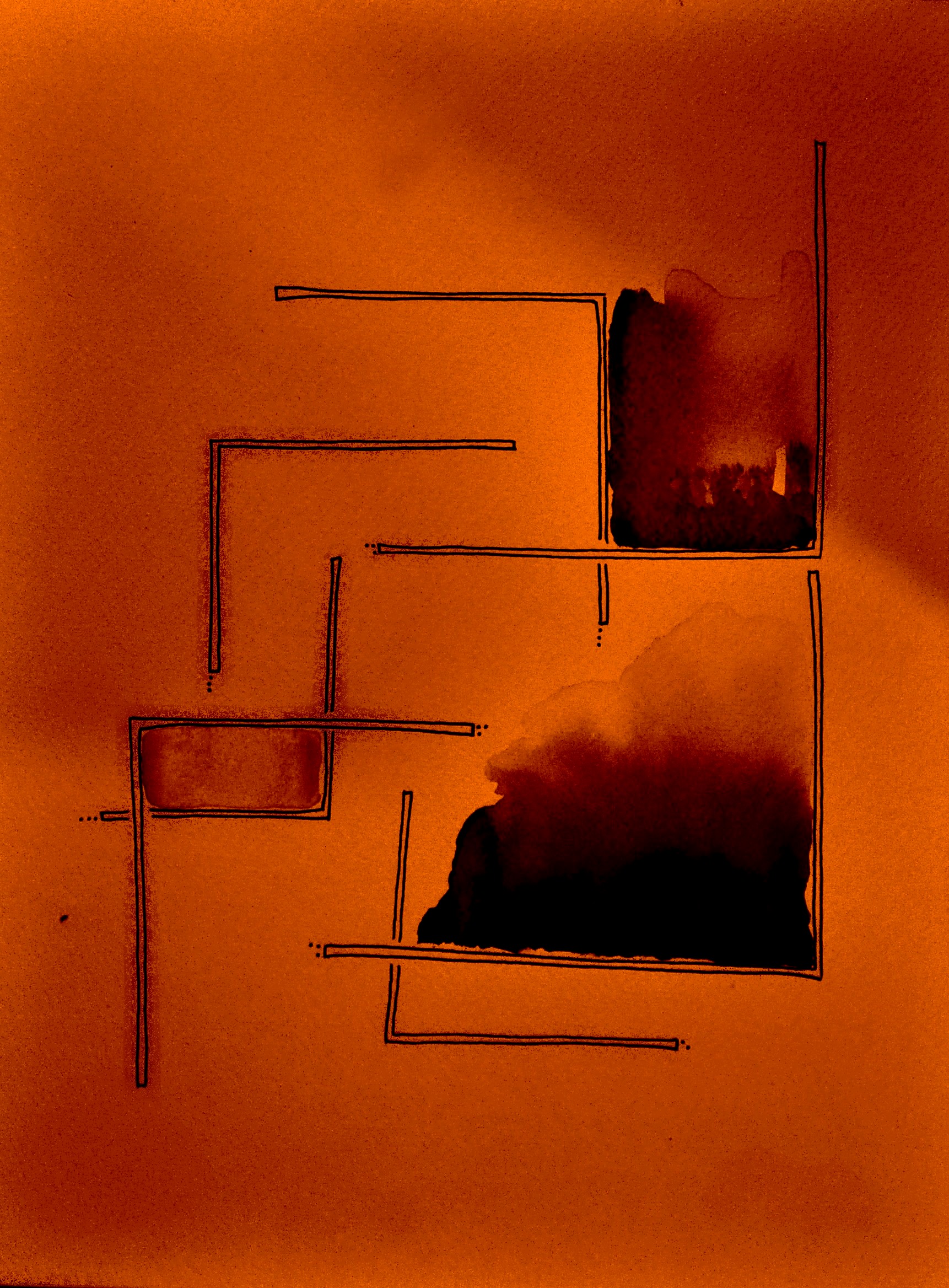|
Desde o que se convencionou chamar de “as jornadas de junho (de 2013)”, o fato e o nome, reapareceu com força um tema recorrente, índice mágico e difuso de todos os problemas políticos contemporâneos, locais e mundiais, e que gira em torno de expressões mais ou menos retóricas tais como “a crise da representação”, “a falência da representação”, “a incapacidade da representação representar”, e, por extensão, seu corolário mais popular em alguns círculos, a “falência da democracia representativa”, “a falência da representação tradicional”, “dos partidos políticos tradicionais”, etc., etc., etc.
O mal-estar estar da tal “representação”, política sobretudo, mas não só, pode encontrar datação anterior a essa que tomo arbitrariamente, a depender do humor de seu cronista, vale dizer.
Vale, porém, dar-lhe uma feição menos vaga e menos retórica, mesmo que seja com validade específica de compreensão dos esboços de análises que seguem. O que tomamos como a “representação política” em seu sentido lato seria tudo que gira em torno da prática mais ou menos estabelecida da representação, com seus condicionantes formais (e, por óbvio, legais) e seus condicionantes propriamente “práticos” - seu funcionamento empírico, seus processos de reconhecimento e universalização, seus modos de expressão de legitimidade. “Representação” política, nessa chave, seria o índice de processos não necessariamente pacíficos ou harmônicos, que compõem um prática específica da vida social cuja função é distribuir, e sob certos critérios, o poder, em uma sociedade formalmente democrática, mas não harmônica ou pacificada.
A explicação que se fez é um cuidado prévio para o desenvolvimento que se segue, uma vez que, como os leitores verão, tomaremos a tal representação, nome e noção, a torto e a direito.
Feito o esclarecimento, retomamos o fio da meada. Desta feita, já apresento minhas intenções ao dizer que aqui interessa menos descrever o quanto a representação “não representa” do que verificar como ela funciona, representando ou não. A intermediação e as mediações de legitimidade do poder e seus usos é o que nos interessa e é esse o objeto que pretendemos circunscrever. Tal profissão de fé não é de somenos importância, já que revela subrepticiamente o ângulo por meio do qual visamos ao problema. Não se pretende, porém, esconder as segundas ou terceiras intenções do autor. Espero (e esforço-me para isso) que essas intenções, seu objeto e o pretendido viés do texto esclareçam-se ao longo da leitura, não somente deste texto, como da série que ele pretende abrir.
Assim, junho de 2013, data mágica desta cronologia, é menos o assunto que nos detemos diretamente e mais a deixa que nos é dada para retomar pela enésima vez o tal problema da representação.
De fato, e volto ao início, o que houve em junho de 2013 não é consenso e nem ainda se apresenta - a este que vos escreve, pelo menos - com alguma clareza e distinção de consenso. Não sendo exatamente o assunto, insisto, não deixa de ter seu interesse como sintoma e efeito do objeto mais geral, no que concordo com a maioria das análises - aqui posto em alvo - a representação política e sua legitimidade. Ocorre que, e daí a digressão, junho de 2013, de fato, suscitou, e com certa ênfase, o tema clássico e recorrente dos limites da representação política e sua natureza, com razão suficiente (pelo menos). Este tema, que se desdobra de uma conjuntura eminentemente nacional e local, convergiu espontaneamente, se se pode assim dizer, em direção ao seu correlato de alcance mundial (pelo menos europeu), resumido nesses termos: o problema universitário e europeu muito típico do “esgotamento da política” e da “história”, sintoma, por sua vez, da “imobilidade” “reformista” e centrista a que convergiu a Europa, é o último impasse da história do mundo. “Reformismo” com aspas e centrismo em sentido próprio, vale reforçar. Ainda que a Europa tenha seus problemas de tipo grego, parece (por hora, pelo menos) que as expectativas superestimaram a possibilidade de quebrar a imobilidade de Estrasburgo, Luxemburgo e Bruxelas, bem ancorada na internacional financeira de Frankfurt. De todo modo, tudo leva a crer que o projeto europeu foi feito para a paralisia, sendo esse o custo e o remédio da paz europeia, uma vez encerrado o ciclo reformista do pós-guerra.
Assim, e retomando, nesse encontro de desencontros, não faltou quem visse aí o acerto dos ponteiros da história local com a mundial, nós finalmente afinados com o tic-tac do relógio da história universal, justamente no momento em que ele parou - maduros, encontrando-nos todos com o impasse europeu velho de vinte anos, pelos menos.
A descrição acima serve apenas para ilustrar o quiproquó em que todos fomos mais ou menos enredados desde de junho de 2013 e, a partir de então, com crise ou sem crise, não houve mais vida fácil para a tal “representação” de que falamos, mais aqui do que lá. Poderia me arriscar a dizer, nós, os “bem nascidos”, que não somos muito afeitos a novidades, principalmente se forem democráticas e em alguma medida populares; a crise da representação, na versão recentíssima em curso aqui nos trópicos, causa em nós mais estranhezas do que se esperaria. A crise política de hoje - hoje, para efeito de esclarecimento, quando o relógio dá zero hora e quinze minutos do dia do segundo mandato do Governo Dilma - , de não menos importância, também se aproveita da confusão, ainda que no bojo dessa confusão (da tal crise que não é apenas da representação) não seja tarefa nem fácil nem simples separar e destrinchar cada um de seus móveis, e menos ainda ver o quando cabe da representação em crise na crise política, caricaturada no jornal diário.
Diante do que já foi dito, demais para uma simples apresentação de intenções e a propósito do que tentamos sugerir preliminarmente, o livro de Marcos Nobre Imobilismo em movimento pode ser tomado como nosso ponto de partida conceitual e, por assim dizer, empírico, e, naturalmente, tem bastante interesse. 2 Seu maior mérito é tentar reconstituir, em uma linha de tempo algo distendida, a experiência da representação política desde a abertura democrática com a eleição indireta de um civil até o governo Dilma, tomando o próprio processo de abertura, na especificidade brasileira, como a modelagem dessa “representação”. Sem assumir exatamente a tese chave da análise de Nobre, e sem negar-lhe igualmente pertinência, tentaremos tomar a nosso grado certos instrumentos analíticos que decorrem daquela análise.
Tomemos com ponto de partida o centralismo do MDB ou do MDBismo, tal como vige em nosso sistema político. Aqui já vale a ressalva mais óbvia: o MDB em questão, aqui, não é tanto o partido político que lhe empresta o nome e mais o modo como o partido empírico foi o que melhor encarnou o expediente mestre da representação política brasileira, pós-ditatura, qual seja, um sofisticado mecanismo de bloqueio e controle do “conteúdo real” da representação política, por assim dizer, que simultaneamente ocupa o lugar de centro mediado e em disputa do espectro político, a equilibrar a competitividade e estimular a concorrência política, entendida como esfera por excelência de intermediação do poder. A excentricidade desse dispositivo e sua longevidade decorre do fato de, em nossa história política recente, ele operar sempre de modo recessivo, apesar de não haver dominância sem a sua presença. Assim, as forças políticas que escapam desse centro, e que têm a vocação e a função de se apresentarem com a pretensão de serem hegemônicas, devem obedecer ao rito de capturar o centro, de se submeter ao seu poder de veto, sob pena de se inviabilizar politicamente. Elas não podem prescindir desse centro, ainda que ele não seja formulador em sentido estrito.
O processo que cristalizou essa função chave ao MDBismo evidentemente não foi nem simples nem se deu de pronto. Nobre reconstitui alguns dos seus momentos formativos, e, em linhas gerais, parece acertar quando: i) insiste na longa crise de transição dos anos 1980, efeito do modo como a ditadura esgotou sua versão vencedora do nacional-desenvolvimentismo e foi incapaz de reformular e repactuar outro modelo de desenvolvimento nacional; ii) menciona a Constituição de 1988 como importante marco institucional de repactuação social, com todos seus percalços e ressalvas; iii) assinala a emergência do plano real como o pressuposto a partir do qual se reorganizaria o modelo nacional de desenvolvimento.
O MDBismo, pouco a pouco, passa a ser o fiador recessivo do processo, isto é, o novo poder moderador da república, com a saída de cena dos militares, aparentemente inviabilizados como atores políticos.
Caberia então perguntar: o que caracterizaria o MDBismo a ponto de ser a peça-chave do sistema de representação pós-ditatura? O MDBismo se constituiu, desde a ditadura que o cria, o que explicaremos na sequência, o centro pragmático, aglutinador e organizador de interesses de varejo e negociador de interesses de atacado, aproveitando o aprendizado que os anos da ditadura lhe deu em termos de operação dos anéis burocráticos do poder.
Esse processo específico de negociação tem um ônus de peso variável, conforme a conjuntura política, que obedece o seguinte pressuposto: a tutela permanente e o bloqueio arbitrário do que chamamos acima de “conteúdo real” da representação, sua matéria em sentido próprio, aquilo que a representação representa. Para ser o centro político que pretende ser - até por exigência estrutural -, a forma da representação deve esvaziar e mitigar a matéria da representação. Esta passou a ser a função chave do MDBismo desde a transição democrática, depois do treinamento de moderação regressiva que teve durante os anos da ditadura.
Dando certa liberdade a nossa análise, poderíamos encontrar o movimento original dessa permanente pactuação pelo centro, a priori do funcionamento do sistema político brasileiro, fazendo um primeiro recuo no exato momento da transição democrática. É o momento em que parte relevante da direita de sustentação mais imediata ao regime, a antiga Arena, então PDS, movimentou-se para o centro, formando assim a Frente Liberal, de modo a viabilizar uma candidatura de “ruptura” (e reforçamos por extenso as aspas) com regime militar ainda vigente, a candidatura do antigo ministro do trabalho do último governo Vargas, Trancredo Neves. Tudo isso sob o fundo do fracasso da tentativa de se emplacar as eleições diretas para presidente da República, processo por excelência de saída da ditadura que teria o condão de reformular de modo democraticamente imprevisível a estrutura de representação política brasileira. Fracassou, porém, e devido, em boa parte, ao empenho do establishment político, muito provavelmente em respeito às exigências e opiniões da caserna. Ora, Trancredo Neves era homem de oposição ao regime, mas de oposição moderadíssima, vale reforçar, o que significava praticamente quase nenhuma oposição, ainda que não tenha votado a favor da vacância da presidência da República, em 1964, ato fraudulento que tirou o então presidente João Goulart do poder, tal como o fez Ulisses Guimarães, então bastante obediente aos interesses do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto.
O fato é que a história poderia recuar ainda um pouco e talvez assim ficasse mais claro o papel de origem do então MDB, efeito direto do bipartidarismo criado pelo Ato Institucional n. II, com a consequente extinção do pluripartidarismo.
Não nos parece absurdo supor que há, em 1964, uma mudança de natureza no modo como se dá o golpe e no modo como se quebra a continuidade institucional, recorrente na história da República. Tal mudança de natureza implicou uma dimensão não prevista nas consequências do golpe de 1964 e que perduram até hoje. Diferentemente do tenentismo radical que irrompia na vida institucional local desde o golpe da República, mais ou menos a cada vinte e tantos anos, havia em 1964 uma sofisticação inusitada e não esperada pela esquerda, sofisticação no modo como tomar a força o poder e garantir a ordem para o progresso. Vale lembrar que desde o golpe da República, os militares arrogaram para si o papel de poder moderador que cabia, então, ao imperador, na constituição outorgada de 1824, de modo a se autodesignarem árbitros do processo político, legitimando a priori toda quebra de continuidade institucional por eles levada a cabo. Em boa parte, essa foi a lógica jurídico-política dos atos institucionais, cuja legitimidade legal emanaria do poder moderador que caberia aos militares.
Assim, a sofisticação de que falávamos tinha que ver com a extrapolação dos militares de sua condição de árbitros, ao assumirem a posição de agentes e atores políticas em sentido próprio e abandonarem a condição de moderador do processo. Tal mudança de natureza desdobrou-se em pelo menos dois efeitos notáveis: a determinação em extinguir o Partido Comunista, o que ele representava e o que girava em torno dele em termos de esquerda organizada, e o expurgo de qualquer conteúdo popular da representação política, para além das classes médias tradicionais, custasse o que custasse, objetivo que foi pouco a pouco se cristalizando à medida que o chamado “golpe no golpe” amadureceu e tomou a cena. A repactuação política, por cima e de modo enfaticamente autoritário, de um centrismo anódino a comandar e com vocação hegemônica no sistema de representação político brasileiro, à prova de qualquer conteúdo popular e real, efeito e causa do tecnocentrismo burocrático que caracterizava o golpe como forma, programa e projeto, reiterava em seu efeito sua causa prima, seu claro e enfático pressuposto antidemocrático. Pode parecer truísmo ingênuo a afirmação de que o golpe seria “antidemocrático”, como de fato foi. A pergunta pelo avesso deixa a situação ainda mais constrangedora: que golpe não seria “antidemocrático”, “autoritário”, quando se efetiva em sociedade democrática? Ainda que o adjetivo democrático esteja sujeito a críticas de todos os lados, não se pode falar com seriedade que o Brasil às vésperas de 1 de abril de 1964 assim não o fosse, minimamente. Ocorre que o “antidemocrático” do golpe não veio do que simplesmente foi, como golpe, mas do que ele pretendeu ser, como programa: seu propósito deliberado era expurgar a mobilização democrática que se radicalizava no início dos anos 1960. Ser antidemocrático foi a negação determinada do golpe de 1964, seu programa e sua natureza. Daí a construção de um centro que tivesse permanentemente uma trava antidemocrática.
O MDB entra no bojo desse movimento deliberado de reengenharia social como ator principal e não coadjuvante, vale dizer, expressão suficientemente antipática para agradar um Coronel Golbery, por exemplo, permanente conspirador da República. Daí que na origem e no efeito, o MDB foi também partido da ordem unida e assim permaneceu unanimemente até a emergência de um pequeno grupo de parlamentares, destoantes, minoritários e incômodos, os chamados “autênticos do MDB”, sobre o que falta ainda fazer a devida história. 3 A datação é imprecisa, mas podemos considerar a eleição legislativa para a Câmara Federal, de 1970, a que consolida o grupo dos autênticos, de 23 deputados, como o marco zero da cronologia “oposicionista” do MDB. 4 São eles afinal que emprestam conteúdo oposicionista ao MDB, sob algum protesto e boicote inicial de Ulisses Guimarães e o olhar de esfinge de Tancredo Neves. Até então o MDB atuava como par bastante cordato da então Arena, ora conduzido, ora conduzindo. Como os autênticos relatam, havia o partido do “sim”, a Arena, e o partido do “sim senhor”, o MDB. Olhando em perspectiva, vê-se que o movimento dos “autênticos” teve papel estratégico na construção da autoimagem do MDB que o consagrou, que passou sem mais de partido adesista, partido do “sim senhor”, à condição de oposição civil ao golpe, nos estertores da ditatura, metamorfose que foi ligeiramente antecipada pela figura do próprio Ulisses Guimarães, personagem muito mais nuançada e com sombras do que o triunfalismo da nossa transição democrática poderia supor. A partir da eleição legislativa de 1974, para câmara e senado federais, a “aura” dos autênticos é capturada pelo MDB, sobretudo devido ao inesperado sucesso eleitoral que a “oposição” teve no pleito, inesperado seja para o regime, seja para os caciques do MDB. Assim, um pouco atropelado pelas coisas, Dr. Ulisses também adere à “oposição” em um partido de “oposição”, e na esteira dessa reviravolta vêm os “novos autênticos”. Tal reinvenção, que teve o condão mágico de refundar o partido, talvez não foi devidamente analisada pelos nosso politólogos, havendo ainda alguns que se surpreendam com o “fisiologismo” adesista do MDB, com se isso fosse novo e não constituísse a própria natureza do partido, desde o berço do AI II, em que nasceu.
Notemos, além do mais, que foi sob o fundo do então “milagre econômico” brasileiro, ainda que sob os impasses de seu esgotamento (fim do governo Médici, início do governo Geisel), que o regime viu-se politicamente ameaçado pelo dispositivo de representação que ele mesmo montou, e a seu grado, como se, ainda em situação adversa e controlada, algum conteúdo real pudesse dar matéria à anêmica representação política então possível. Evidentemente, há a célebre lição de Geisel, repetida em mais de uma ocasião para seu ajudante de ordens, o capitão Heitor Aquino Ferreira, de que a única maioria que conta é a de quem tem o AI 5. O pacote de abril de 1977 foi testemunha ocular da máxima.
Ora, toda esse circunlóquio parece fora de propósito se perdemos de vista que, se a natureza do MDB se reatualizou na transição democrática, como centro amplíssimo sem o qual não há coalizão possível ou segura (tanto o impedimento de Collor quanto o tal “mensalão” o demonstram), é de nascimento seu caráter anódino e de permanente diluição da representação. Como se a maior obra da ditadura tenha sido gestar um sistema política cujo limite de representação real e democrática, em sentido estrito, seja curto e deliberadamente diluído numa miríade de interesses comunitários que não se universalizam. Como se o conteúdo popular e democrático da representação só pudesse operar com a tutela desse centro.
Assim, na contramão de certo consenso da ciência política, que considera o MDBismo (seja o partido enquanto tal, seja o centro organizador dos mais diversos interesses que ele representa) como aquilo que nos salva do extremismo peronista de nossos vizinhos, e de seu maléfico corolário, uma sociedade permanentemente polarizada, o MDBismo teria um ônus muito superior ao bônus que se supõe ser seu efeito mais nobre: ele evita a polarização da sociedade, mas bloqueia igualmente a eficácia da representação política em um contexto, como observa Nobre, orientado pela igualdade como valor universal e pela universalização democrática da CF 1988. Diríamos, com tom levemente catastrofista, que quanto mais a demanda democrática se intensifica no Brasil, fruto, em boa parte, do aumento de intensidade da última experiência democrática que se pereniza entre nós, mais o centralismo do MDB tende a bloquear a representação, na medida em que mais dispensáveis seriam as mediações burocrático-políticas que lhe dariam o papel privilegiado de tutela que ele acredita ter, e que teve, de fato. Ainda mais: quanto mais a experiência democrática se intensifica, mesmo com suas deformações e inadequações, mais o país aparece como ele realmente é: brutal e selvagemente violento. Mais urgente a pauta da representação “que represente” irrompe e impõe-se; mais problemática é sua realização. Nobre reformula o problema dando relevo, em filigrana, ao modo como o MDBismo captura o interesse de varejo da sociedade para mascarar e falsificar o interesse de atacado da mesma sociedade. Esse é o mais notável mecanismo de falsificação da representação: tragar todas as demandas de uma sociedade radicalmente assimétrica e desigual em um centro que lhes dê falso ar de equivalência. Assim, se transforma em interesse de todos a redução da maioridade penal, aplainando e ocultando no discurso a especificidade da violência brasileira, o sentido de classe da repressão que se pretende impor, e da emergência dessa solução como panaceia, e coloca-se, de modo equivalente, em termos de demanda legítima da sociedade e interesse mais ou menos coletivo, a precarização das relações de trabalho na forma da terceirização. Quem é contra a redução da maioridade penal é contra o interesse da maioria, quem é contra a terceirização, não respeita a demanda dos setores produtivos. A mediação de um a outro polo, que parece absurda na caricatura feita acima, é a preciosa obra que o MDB oferece aos brasileiros como permanente “centrão” de nossa vida política. Não há equivalência entre um e outro polo, mas eles aparecem como equivalentes. Seria como se, subvertendo a ideia clássica de vontade geral, e mediante a operação de nosso centro político, só houvesse vontade geral que fosse a soma imperfeita das vontades particulares e não o contrário (“a vontade geral não é a soma da vontade da maioria”), como insistia Rousseau, ciente dos risco de um expediente de representação política que funcionasse como identidade imediata da maioria contra a sociedade.
Se, grosso modo, esse é o mecanismo de bloqueio da representação, que, para funcionar à excelência, deve captar o voto mediante algum particularismo comunitário para, em seguida, negociar, a partir dele, os termos dos grandes negócios de envergadura nacional e o benefício que convém aos seus operadores, à medida que a experiência democrática se intensifica, os operadores sentem-se obrigados a sequestrar para si a representação, sob pena de o mecanismo entrar em pane, segundo o funcionamento que lhes convêm. A experiência democrática não olha pelo retrovisor, está permanentemente olhando para o para-brisa: o que conta não é quanto ela já se faz representada, mas o quanto pode ser. Quando isso ocorre, e o dispositivo entra em pane, a representação só opera para aqueles que prescindem de seu mecanismo mediado: os donos do poder acessam diretamente o coração do sistema por atalhos que dispensam a representação; eles se representam a si mesmos, no interior da representação.
Em situações de temperatura e pressão política normais, esse dispositivo funciona de modo a diluir e moderar permanentemente a disputa das teses políticas verticais, que pretendem reorganizar boa parte da sociedade, e as dispõe como que a meia distância do centro, isto é, a hegemonia dessas teses fica a depender permanentemente de uma negociação pelo centro, que se assume que tem poder de veto. Uma experiência exemplar de tal mecanismo foi dada pelo chamada “centrão”, na Constituinte de 1988, que funcionou exemplarmente como dispositivo permanente de bloqueio de conteúdo popular e democrático na CF, a dar a impressão que não saíamos de uma ditadura de vinte e quatro anos que operou explicitamente conforme uma política da desigualdade (o bolo que precisa crescer para ser dividido), sem falar, evidentemente de tortura e assassinatos e toda forma de perversão no trato e reconhecimento do outro.
Esse é o quadro de fundo sob o qual pensamos ser possível retomar o famigerado problema da representação política, com as devidas cores locais.
A supor ser esse o funcionamento do sistema política brasileiro, ele apenas se estabilizou, desde a abertura democrática, quando, primeiro, foi negociado por cima a superação do impasse nacional desenvolvimentista clássico, no final dos anos 1980, e, segundo, a emergência e o sucesso relativo do plano real, que reorganizou a disputa política e estabeleceu dois polos em disputa pelo centro, dando competitividade ao sistema.
A especificidade de nossa transição, em que os atores que a levaram a cabo estavam, em maior ou menor grau, comprometidos com o que a ditadura projetou para o Brasil especificidade e condicionantes permanentes. Em seus vinte e quatro anos de vigência, a ditadura e seus modos, deu as cartas no momento em que as chamadas “condições objetivas” exigiam o fim do chamada ciclo de modernização ultra-autoritário. Vale lembrar a presença constante do que podemos chamar de constrangimento da caserna, capaz, por exemplo, de exigir, sob chantagem, uma lei de anistia que a protegesse de todas as violações perpetradas aos direitos humanos de sua autoria. Todas essas condicionantes e especificidades fortaleceram o centro político como mediador por excelência, o que igualmente significa, como moderador, e com poder de veto diante dos riscos e fragilidades a que o processo estava sujeito, riscos e fragilidades reais e imaginários, vale dizer.
A consolidação democrática implica, como se vê, a ultrapassagem desse condicionante, e parece ser o nosso estado atual. O exercício da democracia tende a exigir mais e mais distribuição de poder, e não o seu contrário. A estrutura que distribui poder e pondera sua legitimidade resiste a um tipo de avanço que colocaria em risco os controles tradicionais desse mecanismo de distribuição.
Dito tudo isso, nosso dispositivo de representação funciona tendencialmente em sentido contrário, esse é o impasse do MDBismo.
|
![]() TEORIA
TEORIA![]() CULTURA
ISSN 2236-2037
CULTURA
ISSN 2236-2037![]() TEORIA
TEORIA![]() CULTURA
ISSN 2236-2037
CULTURA
ISSN 2236-2037