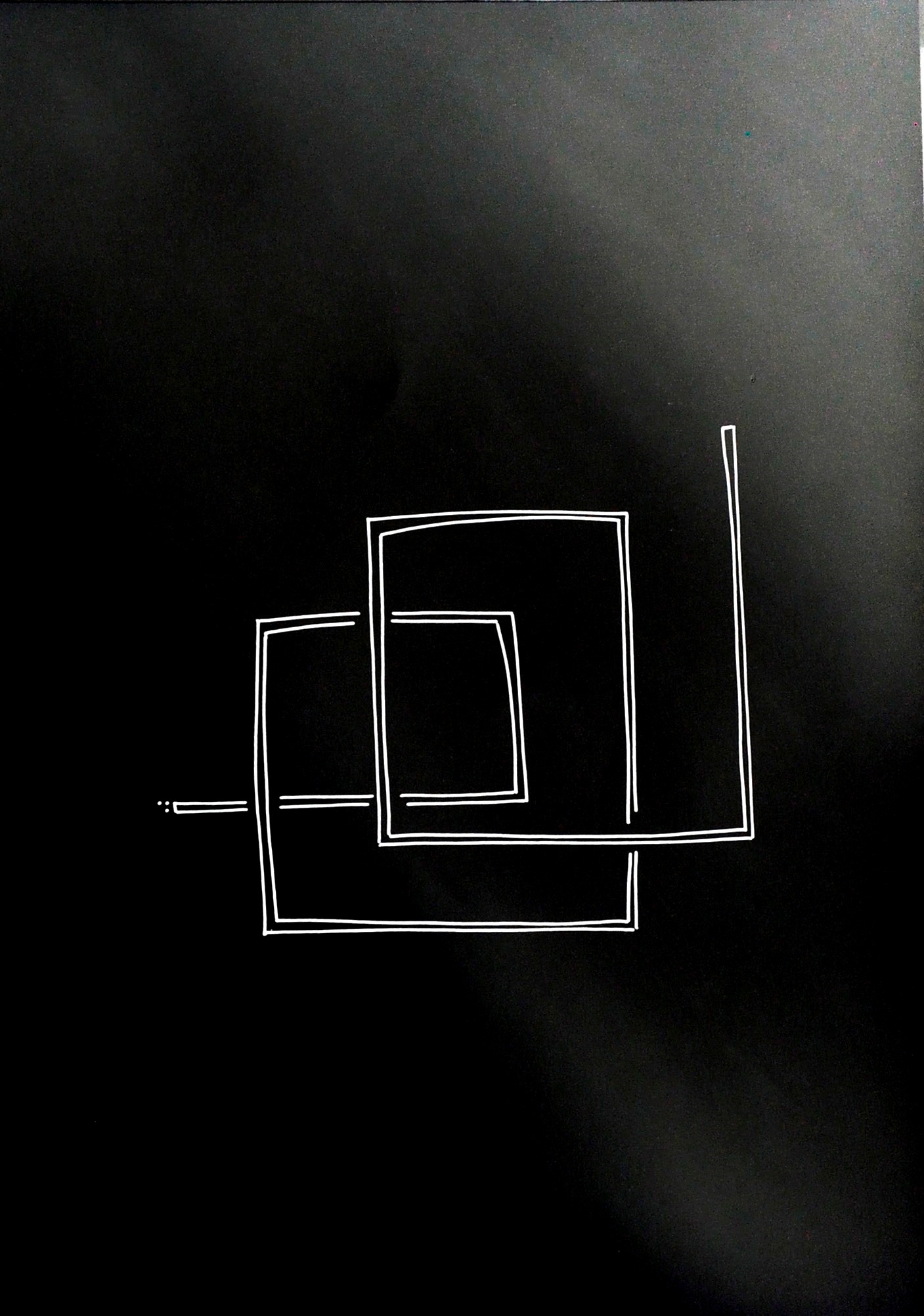|
Reempossada há pouco mais de seis meses, a presidente Dilma Rousseff até agora não encontrou trégua suficiente para recuperar as rédeas do país. Isso é pouco comum: presidentes costumam ganhar um crédito logo após seu sufrágio, mesmo no caso de uma reeleição. Não é o que acontece agora, muito pelo contrário: Dilma recebeu seu novo mandato já encalacrada numa trincheira, da qual não consegue sair.
É verdade que esse roteiro claustrofóbico já estava mais ou menos esboçado desde o final do mandato anterior, marcado por dois grandes problemas que prometiam desdobramentos a seguir: o desarranjo da economia e o escândalo da Petrobras. Os efeitos do primeiro puderam ser mais ou menos administrados até o anúncio do resultado eleitoral, mas o segundo já se fazia presente na própria refrega entre os adversários. Porém, uma vitória, mesmo muito apertada (como foi), não é ainda uma vitória? Depende. Seria se, além das vantagens usuais do Poder Executivo, conseguisse renovar os vínculos desse poder com os governados e com isso reaglutinar as forças dispostas a apoiá-lo e desanimar as contrárias, pelo menos por um tempo. Só que ocorreu mais ou menos o inverso.
Pela primeira vez desde sua ascensão, a hegemonia eleitoral do PT e seus aliados foi colocada seriamente em dúvida. Mesmo sofrendo derrotas importantes aqui e ali até aquele momento, essa coalizão de forças conseguira passar no teste principal, o da legitimidade democrática, vencendo três pleitos seguidos, que lhe repuseram o fôlego para dirigir o país. Mas agora a eleição serviu para condensar num único evento toda a insatisfação e todo descontentamento acumulados nesses anos. Mantidas isoladas ou dispersas até junho de 2013, data dos grandes protestos de rua, a partir dali as diferentes vozes oposicionistas começaram de fato a convergir. E, finalmente, após tanto tempo, lograram desaguar em uníssono nas urnas: a junção de velhas contrariedades, mas até recentemente inócuas, com novas, essas sim responsáveis pelo turning point.
Que tais desenvolvimentos levem da crise de um governo até seu afastamento no próximo pleito é melancólico mas não o fim do mundo, mesmo para quem tem afinidades com o atual governo, como esse articulista. Se levamos a sério que, numa democracia, forças de esquerda ou de direita, ou o que for, ocupam provisoriamente o poder político, em vez de “tomá-lo”, mudanças como essa deveriam ser consideradas normais e até rotineiras. Desde a Constituição de 1988 vimos algo desse tipo acontecer pelo menos duas vezes - exatamente três, se incluirmos a passagem Itamar Franco-FHC. Sim, o afastamento de Collor por impeachment foi um evento traumático, mas sem desrespeito às vias constitucionais.
Mas será que assistimos neste momento apenas a uma crise de governo, apontando para uma futura e normal alternância entre as forças de governo e de oposição? Ou estará em curso um deslocamento de camadas mais profundas de nosso regime democrático, para além dessas alternâncias? É o que este artigo pretende discutir.
Duas notas mais abstratas, antes de continuar. As palavras “esquerda” e “direita”, que serão usadas com frequência neste artigo, são bastante escorregadias. E há quem as considere ultrapassadas para compreender os tempos em que vivemos. De fato, enfiar tantas coisas novas acontecendo nesse único eixo seria simplificar demais o mundo. A política do século XX, por exemplo, mostrou à exaustão a irredutibilidade da questão democrática à disjuntiva, assim como, mais recentemente, a questão ecológica. Mas seria também muito temerário abandoná-la, em vista da persistência de um conjunto de conflitos fundamentais que a envolvem diretamente. A questão da igualdade/desigualdade social, como Norberto Bobbio teve a oportunidade de expor anos atrás, é a principal delas: vários discursos políticos, correntes ideológicas e mesmo instituições (como partidos) continuam divergindo a respeito de sua necessidade, abrangência, prioridade e até de seu conteúdo concreto.1 Esse é um dos sentidos comuns em que a palavra será usada aqui. O outro, também muito comum, é o relacional: apontar a posição ideológica de pessoas e grupos de acordo com uma “faixa” contínua, na qual estão à esquerda ou à direita uns em relação aos outros, assim como, dado um leque de agências com poder suficiente para influenciar um sistema político, situar de que “lado” (esquerdo ou direito) está posicionada cada uma delas. Sabemos que não é nada fácil, hoje em dia, classificar agências como os partidos políticos apenas por essa dimensão e, pior ainda, se considerarmos a tradição partidária brasileira, de baixa vertebração ideológica. Porém, de novo, abandoná-la tornaria suas disputas até mais difíceis de compreender do que já são. Assim, o que se fará ao longo do texto a esse respeito é inescapavelmente rudimentar e de modo algum livre de controvérsia2 , mas o autor espera que seja de suficiente entendimento, dado o contexto da discussão.
A outra nota é a seguinte. Regimes constitucionais, como são as democracias contemporâneas, podem sofrer mudanças profundas mesmo que suas regras básicas permaneçam formalmente intocadas. Tais mudanças podem acontecer, ou não, nos momentos de derrotas eleitorais dos antigos ocupantes. Desde 1945 o regime britânico, com diversas trocas entre governo e oposição, permaneceu mais ou menos estável até os anos 1970. A partir dali, sucessivas crises de governo começam a acontecer até a vitória de Margaret Thatcher em 1979. Mais do que a crise de um governo (ou de um partido governante), aquela década conheceu uma crise de regime ou, mais amplamente, de um certo padrão das relações entre Estado e sociedade. E 1979 abriu um novo ciclo. Viradas como a do thatcherismo, contudo, não precisam esperar uma eleição para acontecer. Embora mais raras, e com bem menos chance de sucesso, elas podem se dar ao longo de um mesmo governo, quando o núcleo dirigente das forças que o compõem, ciente de suas dificuldades crescentes para prosseguir com seu programa e discurso tradicionais, resolve fazer a virada por conta própria. Foi o que aconteceu na França, durante os “anos Mitterrand”.
Não se quer dizer com isso que estamos vivendo no Brasil uma passagem semelhante em termos de conteúdo. Longe disso. O Brasil nunca teve propriamente um ciclo socialdemocrata, nem foi seguido por um ciclo neoliberal, tal como aconteceu em vários países da Europa Ocidental. Nossa história foi e continuará sendo muito diferente. Durante os anos da redemocratização, experimentamos, além do advento de um novo regime constitucional, o esgotamento do nacional-desenvolvimentismo e a passagem para uma espécie de liberal-social-desenvolvimentismo, para dialogar com um termo próximo usado pelo colega e amigo Brasílio Sallum Jr. Seu momento crítico se deu com o fim de um longo período inflacionário, enquanto a democratização do país já se consolidava. Ele deu novo fôlego para o próprio regime, garantindo-lhe governos relativamente estáveis (em comparação com os anteriores), além da demarcação, para as forças políticas em competição, de uma pauta de questões relevantes a serem enfrentadas a médio e longo prazos.
Passaram-se vinte anos desde então; aliás, o tempo que durou a ditadura militar. Mas não há nada que nos leve a temer que a democracia que a sucedeu esteja agora ameaçada. Entre outras coisas, porque não surgiu ainda nenhuma força social relevante, inclusive dentro das forças armadas, pelejando por uma alternativa abertamente antidemocrática. Manifestações recentes nesse sentido são pouco articuladas e francamente residuais, embora possam ser sinais de alguma outra coisa, de que se falará a seguir.
A democracia permanece firme, porém não a pauta, o discurso, os sentimentos, os partidos, enfim, suas forças originais, engendradas na oposição ao regime autoritário e que orientaram os primeiros passos do novo regime. Um pouco mais tarde elas se tornariam as principais avalizadoras - estando no governo ou na oposição - do ciclo que logrou estabilizá-lo. Mas este vem há algum tempo perdendo seu empuxo e experimenta agora uma veloz retração. Quais as indicações desse processo e em proveito de que forças alternativas ele se dá? Elabora-se essa indagação com o auxílio de três temas bastante frequentados nos debates públicos em curso: a) o deslocamento das correntes de opinião pública, detectável no conteúdo e na intensificação do embate político-ideológico; b) mudanças na relação tradicional entre os poderes constitucionais, refletindo o declínio das forças políticas que tem disputado a direção do regime até aqui; c) a predominância da pauta da corrupção.
A reemergência (com toques gramscianos) dos conservadores
Para discutir esses tópicos, uma breve retrospectiva da política brasileira vem a calhar. O país conheceu vinte anos de um autoritarismo de direita, apoiado inicialmente por uma mistura de tendências conservadoras, liberais e nacionalistas. Os mais liberais foram caindo fora conforme o regime endurecia, embora parte deles tenha retornado nos anos da “abertura”. De qualquer modo, a ocupação inconteste do aparato estatal por essas forças, conjugada ao ambiente de um autoritarismo “desmobilizador” em vez de “mobilizador”3 - como o fascismo e o comunismo -, abriram a janela para que tendências ideológicas adversárias se deslocassem para o único espaço em que teriam chances reais de prosperar: a sociedade civil. De onde se diz que, durante a ditadura, a política teria sido dominada pela direita enquanto a cultura, pela esquerda. Há, sim, um exagero nessa contraposição entre política e cultura, pois a esquerda fez muita política através da cultura, entendida aqui num sentido mais amplo, não limitado apenas à criação artística. Isso não retira um fundo de verdade na afirmação: tendências de direita, conservadoras, monopolizaram a direção do Estado e o fizeram recorrendo à repressão, censura, intimidação, em suma, a violência. Um autoritarismo, portanto, tremendamente defensivo no campo cultural, ainda que tomando iniciativas importantes no campo econômico-social, graças à preservação seletiva do nacional-desenvolvimentismo do regime anterior.
O preço das vantagens obtidas pelo exercício violento do poder foi este: a perda do prestígio, ou melhor, da autoridade moral e intelectual do pensamento conservador. É verdade que o conservadorismo esteve em maré baixa em todo o mundo durante os anos 1960 e 1970, não só em termos de inspiração intelectual, mas também nos modelos práticos de comportamento e estilos de vida. Mas nos países em que buscou prevalecer pela força, a baixa foi ainda maior, uma vez que a represália às tendências contrárias incentivava nestas a capacidade crítica, no mesmo compasso em que produzia, nas que ladeavam o status quo, a acomodação e o embotamento. Seu resultado foi a acumulação do ressentimento, especialmente entre os jovens (“você não gosta de mim, mas sua filha gosta...”) e nas classes mais disponíveis ao consumo da cultura, contra qualquer coisa que se insinuasse conservadora: da ideologia ao comportamento que lhe correspondesse, da produção intelectual a seus autores.
Seria de se esperar, por conseguinte, que nos anos da redemocratização, inclusive no período de transição iniciado ainda durante o regime autoritário, o prestígio e a autoridade deslocados para a esquerda, ou mesmo para um progressismo difuso, acabassem capitalizados politicamente. Até porque a represália autoritária tendia a emprestar uma aura de heroísmo a qualquer iniciativa de oposição, fosse no plano do pensamento ou das atitudes. E ao reprimir ou limitar, a ditadura automaticamente as politizava. Essa experiência - o que e quem a sofre - forneceu ao regime sucessor tanto a orientação ideológica inicial quanto seus quadros de maior prestígio. Isso, mesmo que a própria transição à democracia tenha sido marcada por soluções de meio-termo, dispostas a conciliar com sobrevivências do regime anterior. De fato, não houve o tão comentado “revanchismo” contra a direita, mas o ressentimento permaneceu forte.
Evidentemente, a crise final do bloco soviético e a queda do muro de Berlim impõem uma dissonância nesse quadro. Os ventos nacionais sopravam a favor da esquerda, mas os internacionais francamente contra. Ainda que nesse período predominasse na esquerda brasileira a inclinação por um socialismo não comunista - o PC tornara-se uma pálida sombra do que havia sido - o impacto negativo do fracasso soviético contaminou todo o campo ideológico pró-socialista. Como diz um historiador britânico do comunismo:
Se o papel do comunismo na derrota do nazismo contribuiu para uma ampla aceitação das economias mistas após 1945, sua implosão em 1989 foi geralmente encarada como prova de que Friedman, Reagan e Thatcher estavam certos e de que o Estado devia se retirar da economia. A economia planejada soviética não era vista como fundamentalmente diferente da economia mista do pós-guerra, e sim como uma versão mais estatizada dela.4
Mesmo marcando uma mudança de época, esses eventos não foram capazes de retirar do campo progressista brasileiro seu poder de influenciar o sentido da redemocratização. Não há dúvida que enfraqueceram seu discurso tradicional de crítica da economia capitalista, obrigando a modificá-lo em maior ou menor grau, ou então a aceitar, por meio de improvisações, um ecletismo doutrinário ou o puro e simples pragmatismo. No contexto brasileiro, esses deslocamentos evidenciaram a obsolescência do nacional-desenvolvimentismo, já em franco declínio em termos práticos. Vale destacar, porém, que a crítica do nacional-desenvolvimentismo animava, desde meados da década de 1960, não apenas o pensamento conservador, mas também o pensamento à esquerda do Partido Comunista - uma mistura de vertentes que depois predominaria no campo progressista. Tendo, porém, pouco a oferecer de alternativo no terreno estritamente econômico, isso só contribuiu para deslocar ainda mais sua influência para o terreno da cultura democrática e da justiça social. Na primeira eleição presidencial, a vitória de Collor ofereceu à direita sobrevivente da ditadura uma oportunidade para sair da defensiva e ganhar a dianteira, pelo menos em termos de alternativa econômica. Mas seu fracasso, e pelo modo como se deu, só reforçou a influência política do progressismo nos anos seguintes.
E assim continuou até culminar na ascensão ao Poder Executivo federal das forças que, organizadas em torno do PT, foram capazes de aglutinar o que havia de mais à esquerda do establishment político decantado nos anos anteriores. Já era, no entanto, uma esquerda razoavelmente moderada, a despeito de variações no conteúdo e no estilo. Moderada tanto pelos degraus importantes que foi galgando por dentro das instituições estabelecidas, quanto pelo conhecimento das vantagens que elas ofereciam: para suas próprias carreiras enquanto líderes partidários e quadros do Estado, mas também para a promoção das camadas sociais que buscavam representar. A moderação também advinha de um balanço crítico da experiência socialista no século XX e dos embates que antecederem o golpe de 1964, isto é, um senso mais apurado dos limites das práticas democráticas, que impunham a busca de aliados e a disposição para negociar com os adversários, em resumo, a flexibilidade programática e ideológica. Flexibilidade que custava pouco no campo cultural, em vista da já forte presença na sociedade civil, porém cheia de armadilhas nos campos econômico e social, em vista da divergência entre seus princípios programáticos e a orientação prevalecente da política econômica desde que a hiperinflação fora debelada em 1994.
Acima de tudo, foram nesses dois últimos campos que o ciclo desdobrado a partir de 1994 engendrou suas tendências opostas principais: uma à direita, mais acentuadamente liberal e receptiva às expectativas das classes altas, e outra à esquerda, mais social-desenvolvimentista e receptiva às classes populares. Mas não nos percamos nessa distinção, pois ambas permaneceram (ao longo do ciclo) amarradas ao que se chamou aqui de liberal-social-desenvolvimentismo, enquanto cada qual enfatizava aspectos distintos dessa união contraditória e logravam colher, no auge de sua influência, apoios de todas as classes.5
Mas o primeiro lance do ciclo coube à tendência à direita, capitaneada pelo PSDB, que soube capitalizar a vitória sobre a inflação, mas acabou prisioneira dessa vitória durante quase todo o período de sua estadia no poder, graças à orientação ideológica, parcialmente herdada da presidência de Collor, que impregnou a política antiinflacionária. Daí sua tendência a combinar reformas “estruturais” de liberalização da economia com políticas de “marcos regulatórios”, isto é, formas mais brandas e indiretas de intervenção do Estado, evitando iniciativas diretas, seja para direcionar a economia ou para atacar as disparidades sociais. Não que não houvesse dentro do próprio governo pressões nesse sentido - os tais “desenvolvimentistas” tucanos, que por sinal lograram aumentar seu cacife no segundo governo de FHC, em virtude das turbulências da economia mundial em 1998-1999.
Enquanto isso, a tendência à esquerda, liderada pelo PT, ia aprendendo a acomodar-se aos tempos, em função das derrotas nas disputas presidenciais, mas também em função de experiências mais ou menos bem-sucedidas em governos estaduais e municipais, principalmente nas capitais. Em ambas, ela foi refinando o savoir faire da política profissional, suas virtudes assim como seus vícios, e tateando os limites e possibilidades do ciclo que, no papel de oposição, ajudava a construir. Nas eleições de 2002, encontramo-la razoavelmente azeitada para fazer todos os movimentos que as chances de vitória no pleito, muito aumentadas com o desgaste do adversário, lhe demandavam. A famosa “Carta ao povo brasileiro” soa, nessa perspectiva, menos surpreendente.
Empossados no governo, coube então ao PT e seus aliados fazer o segundo lance do ciclo. E, após alguns ziguezagues e improvisações, parecia ter encontrado o modo de fazê-lo. Sem ter de atacar, no essencial, os tais “fundamentos” da política econômica herdada, buscou incliná-la numa direção favorável ao uso dos fundos públicos para distribuir renda às classes populares, além de iniciativas para recuperar a estrutura do Estado e projetar a indústria brasileira na competição internacional. É evidente que a conjuntura econômica internacional anterior à crise de 2008 ajudou bastante. Contudo, o importante foi a vontade política investida para aproveitar as brechas do contexto, saturando-o de conteúdo social e esticando seus limites. Eis o ponto: não para transformar a economia de mercado em alguma outra coisa, mas para ampliá-la no sentido de uma economia de mercado de massas; não para inibir bens e serviços privados, mas democratizar seu acesso. Esta sua face social-desenvolvimentista. Todavia, a despeito do inegável conteúdo popular, sua orientação também teve um acento liberal: priorizar a transferência das decisões de gasto para as pessoas (indivíduos e famílias), e com isso incentivar o aumento da oferta de bens privados, em vez de concentrá-las nas mãos do Estado para providenciar bens coletivos, de uso comum. Não, porém, um liberalismo espontâneo, de baixo para cima, mas um liberalismo promovido pelo Estado, de cima para baixo, através de políticas agressivas de melhoria da renda popular: bolsa-família, aumento do salário mínimo acima da inflação, mais emprego e incentivo ao emprego formalizado, políticas de crédito etc.6 Em resumo, para a fúria dos adversários à esquerda e à direita: nada contra o capitalismo em si - nem mesmo sua propensão rentista -, apenas contra o capitalismo de proveito exclusivo para as classes altas e médias. Apto, aparentemente, a alegrar todas as classes, porque não precisava alvejar a riqueza patrimonial dos melhor aquinhoados, mas simplesmente elevar as condições de vida e o poder aquisitivo dos mais pobres e de quebra aumentar as oportunidades de ganho dos homens de negócio.
Contudo, alegria geral apenas aparente. Pois, como a experiência foi confirmando, as classes não se atritam por razões exclusivamente econômicas. Quando as mais baixas, especialmente as de cor negra e parda, começaram a consumir bens e serviços e a circular em massa em espaços que as superiores haviam se habituado a tomar como exclusivamente seus, uma luta de classes um tanto fora da cartilha acompanhou essa aproximação inesperada. Talvez o incômodo não fosse tão intenso para os grupos realmente milionários, que podiam continuar comprando espaços exclusivos e bens e serviços muito caros - helicópteros, jatinhos privados ou poltronas “classe executiva” nos aviões de carreira e assim por diante - esquivando-se dos contatos públicos. Mas, para as demais classes, média e média-alta, também acostumadas a uma certa exclusividade, esse contato era inevitável desde que, em tese, a única marca de distinção exigida pela economia capitalista é a quantidade de dinheiro no bolso. “Em tese”, porque estamos falando de um conceito ideal-típico do capitalismo, abstraído da história social peculiar que sempre o acompanha, com seus ingredientes culturais e psicológicos. Por exemplo, há que levar em conta, como muitos já salientaram, o caráter “estamental” da estrutura de classes da sociedade brasileira: sua tendência a converter o direito em privilégio, em vez de tomá-lo como um poder (jurídico) de acesso igual. É um fator cultural nada desprezível, provavelmente afetando os indivíduos de todas as classes, uma vez que logram escalar mesmo alguns poucos degraus da hierarquia social.
Por aí podemos começar a entender por que setores das classes médias passam a sentir-se alienados do ciclo assim estabilizado e, portanto, não representados pelo modo particular com que as relações Estado e sociedade se ajustaram nele. Contudo, por mais significativo que seja, esse fator não explica, sozinho, o comportamento cada vez mais refratário de faixas tão abrangentes das classes médias aos governos liderados pelo PT. Vale destacar que este articulista não se alinha às análises que se inclinam a dar um tratamento muito chapado a grupos tão heterogêneos, sociológica e ideologicamente, como esses que ocupam as camadas intermediárias da estratificação social brasileira. Se sempre houve setores dessas camadas propensos a crenças e atitudes de direita, também nunca deixou de haver parcelas propensas a disposições contrárias. A maioria muito provavelmente tende à oscilação, cujo sentido depende da sensibilidade das diferentes alternativas político-ideológicas, além das políticas governamentais, para elaborar seus anseios e, com isso, obter apoio.
De modo que a propensão a um comportamento “estamental” das classes médias - o qual, vale repetir, permeia, em maior ou menor grau, todas as classes nacionais - poderia ser neutralizada, não fossem outros fatores. E entre os principais cabe destacar este, agora sim bem material: parte considerável dos impostos, em particular um de seus componentes (o imposto de renda), é arcada pelas classes médias, que porém pouco se beneficiam de seu retorno - dada a precariedade dos serviços públicos -, além de aguçar seu ressentimento quando os veem convertidos em renda apenas para as classes populares e... em corrupção. É interessante notar, porém, que as disputas dentro do campo liberal-social-desenvolvimentista decantado ao longo do ciclo não tenham produzido divergências sérias em torno da ideia de que as políticas públicas deveriam ser mais focadas, isto é, voltadas prioritariamente para os menos favorecidos. (Não podemos esquecer que foram o governo de FHC e, quase na mesma época, o governo petista do Distrito Federal, que iniciaram algumas delas, uma das quais depois unificada em nível federal no bolsa-família.) Isso porque, no Brasil, políticas universalistas são frequentemente capturadas pelos grupos menos vulneráveis, transformando-as num privilégio não intencionado (como é o caso das universidades públicas). Porém, o resultado de torná-las focadas, mas não melhorar palpavelmente os serviços públicos tradicionais, como saúde, educação e segurança pública, é que o Estado brasileiro deixou de ter políticas para conquistar esses grupos.
Justamente por essa brecha passará um discurso conservador renovado, destinado a ganhar crescente robustez e audiência. Discurso este não veiculado principalmente pelo sistema político, mas pela mídia e outras instituições da sociedade civil formadoras de opinião, embora pouco afeitas ao ativismo típico dos movimentos sociais progressistas. Na verdade, esse discurso, calibrado para expressar tais insatisfações, teve de ser gestado fora do sistema político e só posteriormente ecoou dentro dele. Compreende-se por quê. Dentro do sistema político, após 2002, havia o polo oposicionista articulado pelo PSDB, cujos quadros de maior destaque - entre os quais FHC, José Serra, Mário Covas etc -, porém, haviam se formado intelectual e politicamente na luta contra uma ditadura de direita e na conjuntura da redemocratização, como vimos. Eles não tinham, portanto, nem história, nem repertório semântico, nem o estilo e, talvez, nem mesmo o physique du rôle que os fizesse espontaneamente gestar esse discurso. Teriam de ser empurrados a isso, como o foram mais tarde. Por outro lado, havia a equação eleitoral que, se pouco inibe as vozes oposicionistas na mídia, é fator crucial para a sobrevivência dos partidos políticos. Embora o novo discurso conservador pudesse ganhar uma audiência muito numerosa e vocal, como de fato ganhou, esta não conseguiria ultrapassar o limite de uma numerosa minoria enquanto as políticas distributivistas tivessem a chancela do apoio popular, vale dizer, das maiorias. Nessas condições, o PSDB só conseguiria sobreviver como polo oposicionista dentro do sistema político se não rompesse os marcos característicos do ciclo do qual se beneficiou num primeiro momento e que, afinal, também colaborou para construir. É crucial ter em mente que os dois governos FHC só puderam existir porque conseguiram alcançar o “povão”, isto é, conquistar efetivo apoio das classes mais numerosas - e o fizeram porque o êxito da política antiinflacionária produziu imediatamente um efeito distributivo, beneficiando essas classes, o que gerou uma reserva de legitimidade, a render por um bom tempo, mesmo depois que o benefício concreto havia se dissipado. Por outro lado, se FHC pôde manter sob controle, na maior parte desse período, a fricção entre as classes, é porque não ousou dar os passos que os governos Lula deram. Contudo, quando a política antiinflacionária, com a orientação ideológica que teve, esgotou seu poder de atração junto às classes populares, estas passaram a dar ouvidos ao polo aglutinado pelo PT. O qual, é preciso dizer, durante a eleição e no início de seu governo foi hábil suficiente para exercer alguma sedução mesmo sobre as classes médias ou, pelo menos, não provocar sua resistência.7
Que o governo liderado pelo PSDB não tenha dado os passos que o governo Lula mais tarde dará significou que esse partido teve de passar a contentar-se com um eleitorado mais disponível para a direita, mas sem oferecer o discurso e o comportamento correspondentes, como vimos, tanto por falta de repertório quanto pelo alto risco de condenar-se à inviabilidade eleitoral. A reversão desse quadro em favor de um conservadorismo desabrido só poderia se dar se os marcos do ciclo entrassem em descrédito geral ou, no limite, fossem implodidos. E se isso acontecesse, o jogo de oposições ou a linha de polarizações gestada pelo próprio ciclo fatalmente seria afetada, em detrimento de seus dois maiores protagonistas.
Nesse ínterim, afastados ou pouco queridos nas instituições oficiais, os conservadores tiveram de labutar pelo caminho que as esquerdas labutaram durante a ditadura militar. É irônico que vários deles, para denunciar uma espécie de infiltração de seus adversários ideológicos nas escolas, na imprensa, no cinema, e assim por diante, tenham se dedicado a estudar o pensamento de Antonio Gramsci, fazendo-lhe uma leitura estereotipada e um tanto conspirativa. E, porém, foi justamente a árdua e demorada conquista das “trincheiras da sociedade civil”, tão enfatizada pelo comunista italiano, que o conservadorismo passou a praticar. Bem ou mal lido, Gramsci acabou ajudando a direita brasileira a recomeçar a pensar.
Em contrapartida, o deslocamento em direção ao Estado, se deu às esquerdas a oportunidade de mudar a sociedade em muitos sentidos, não lhes fez muito bem intelectualmente. Com efeito, esse deslocamento não só afetou suas práticas e seu estilo peculiar de fazer política, ao semiestatizar partidos e movimentos sociais, mas em muitos casos embotou sua imaginação criativa. Pois não é que, no afã de sacralizar suas crenças e percepções da vida política e social, estivemos próximos de vê-las estatizar o próprio pensamento? Para ficar em dois exemplos. Primeiro: em nome de resgatar a memória das vítimas do autoritarismo, em princípio muito justo, o progressismo por pouco não se entregou à escrita de uma história oficial da ditadura, no pior espírito do chamado “politicamente correto”. E o outro: a bandeira do “controle social da mídia”, que usa o álibi do ataque aos monopólios na economia, em princípio também muito justo, para tentar cercear o forte viés oposicionista da mídia existente aos governos do PT, em vez de investir a seu favor na ampliação e diversificação dos veículos de opinião pública. Em ambos os casos, sinais de que a antiga disposição para disputar os sentimentos dos cidadãos na sociedade civil, isto é, a busca da adesão voluntária, estava sendo trocada pela busca da adesão compulsória, chancelada oficialmente. Na disputa cultural especialmente, isso significava sacrificar o investimento na inteligência em favor da burrice.
O deslocamento dos poderes constitucionais e o retorno da crise social
Para explicar as especificidades da dinâmica constitucional brasileira, os cientistas políticos chamaram nosso sistema de governo de “presidencialismo de coalizão”. A expressão atenta para o fato de que, num sistema eleitoral proporcional como o existente no Brasil, é muito difícil que o partido do presidente da República seja capaz de ganhar uma maioria suficiente para governar sozinho. Para garantir “governabilidade”, o presidente é obrigado, depois de eleito, a fazer alianças com outros partidos, mesmo entre os que não tenham apoiado sua candidatura. No entanto, para que não fique à mercê apenas da boa vontade dos partidos que venham a garantir essa maioria, a Constituição Federal lhe dá vários poderes, além dos tradicionalmente atribuídos ao Poder Executivo: a iniciativa legislativa, o poder de veto, a prerrogativa da lei orçamentária, o poder de decreto de validade limitada (a medida provisória) etc. E mantém mais ou menos intacto seu poder de patronagem (a distribuição de cargos de confiança). Ainda que a Constituição também tenha restaurado as prerrogativas do Congresso Nacional como Poder Legislativo e de fiscalização, esvaziadas durante o autoritarismo, e ampliado as funções do Poder Judiciário, a ideia do “presidencialismo de coalizão” é que o Poder Executivo é o vértice e motor de todo o sistema de governo. Seu bom funcionamento dependeria então do apetite presidencial para exercitar essa concentração de funções e de sua capacidade de manter a iniciativa e coordenar os demais poderes.
Com efeito, uma vez que o ciclo de que estamos tratando ganhou voo de cruzeiro, essa interpretação correspondeu razoavelmente aos fatos. Mesmo com a fragmentação partidária no Congresso, previsível num sistema proporcional com poucas restrições, o partido do presidente se viu capaz de atrair aliados e garantir maiorias mais ou menos tranquilas, inclusive para fazer emendas constitucionais. Contribuiu para tanto a existência de um partido numeroso, estrategicamente colocado entre governo e oposição (quaisquer que fossem) e faminto de cargos federais. O PMDB, como se sabe, havia cumprido com brilho seu papel de aglutinador das oposições durante o regime autoritário. A democratização, porém, não só o desfalcou de seus quadros mais notáveis mas também de suas causas mais nobres, desde que a ideia de um partido-frente se esgotara. Seu último gesto com sabor de alternativa de poder foi a candidatura presidencial de Ulysses Guimarães, em 1989, mas o fracasso dela significou também o fim de sua carreira como partido com um comando nacional. A sobrevivência do PMDB dependeria agora de se arranjar como uma federação de potentados regionais. Como tal, manteria sua competividade eleitoral nas unidades subnacionais (municípios e estados), suficiente para produzir uma bancada numerosa no Congresso e tornar-se o fiel da balança na disputa entre os dois partidos nacionais com vocação para governar o país.
O “presidencialismo de coalizão” sublinha apenas as condições formais de funcionamento do atual sistema de governo. Não pode ser abstraído das condições substantivas - uma junção de fatores políticos, sociais e econômicos - que garantem sua contínua alimentação. Assim, a incompetência para debelar a inflação elevada e crônica, desfalcando sua popularidade, havia solapado a capacidade de atrair aliados de presidentes anteriores a FHC. Além da inflação descontrolada, o temperamento messiânico de Collor e sua indisposição para compartilhar o governo selou sua sorte no Congresso. Quer dizer, um regime cujas funções mais importantes para manter o sistema político em operação são exercidas por um indivíduo, não pode deixar de refletir em alguma medida suas características pessoais. De modo que é sempre prudente torcer para que o presidente seja um bom político, experiente e hábil, mas não há regra institucional capaz de impor algo tão subjetivo.
Por outro lado, a experiência do autoritarismo fez com que, no retorno à democracia, muita atenção se desse à independência do Poder Judiciário. A isso sobrepuseram-se mudanças fundamentais no pensamento e nas práticas constitucionais contemporâneas, absorvidas na Carta de 1988. Vivemos a “era dos direitos”, para lembrar o título de um livro de Norberto Bobbio, e quem senão juízes e advogados - os tais “operadores do direito” - seriam os melhores candidatos a encarná-la nas funções estatais? Nossa Constituição não só enunciou direitos mas proveu as instituições judiciais ou parajudiciais, como o ministério público, de recursos e autonomia para efetivá-los na medida do possível, em caso de omissão dos outros poderes constitucionais. Recrutando bacharéis de direito imbuídos da nova ideologia constitucional, muitos deles não só convictos de sua justeza mas ávidos por agarrar a oportunidade e projetar suas carreiras dentro e fora do aparato estatal, o Poder Judiciário brasileiro, ampliado, tornou-se mais ativo do que nunca. A ponto de hoje ser possível dizer que, ao contrário da expectativa dos que, mais de duzentos anos atrás, inventaram a ideia de lhe dar papel constitucional, na prática é um poder que tanto move quanto é movido.
Considerando a forma e o conteúdo dos direitos que está encarregado de promover, não mais centrado na sacralidade da propriedade privada, mas na igualdade, dignidade da pessoa e tantos outros valores hoje associados à ideia dos direitos humanos, um Poder Judiciário ativo carregaria, em tese, uma potência progressista muito grande. Aliás, em sintonia com o empuxo inicial da democratização brasileira. E, de fato, nos anos subsequentes, suas instâncias foram dando sinais de receptividade ao clamor por direitos, ao chamar para si decisões difíceis e polêmicas nessa direção, mesmo que certos processos politicamente mais sensíveis8 fossem freados em sua instância máxima. Essa abertura só fez crescer sua legitimidade, com seus órgãos ganhando crescente autonomia para aprofundar iniciativas nos mais variados assuntos.
Mesmo que esse ativismo tenha levado a uma interferência sem precedentes nos outros poderes constitucionais, a intromissão não chegou a ser tão problemática até recentemente. Ou seja, enquanto executivo e legislativo, especialmente o primeiro, detiveram com firmeza a capacidade de iniciativa, incrementando seu próprio ativismo. E, igualmente importante: enquanto o Poder Judiciário se manteve neutro em relação às disputas partidárias e cioso de zelar por essa reputação, vale dizer, deixando que a própria competição eleitoral e a refrega parlamentar as resolvesse.
A história de como esse envolvimento acabou acontecendo ainda precisa ser devidamente estudada. Mas ela não se deu por conta de uma ação planejada e concertada de juízes e procuradores do Ministério Público. Foi ocorrendo com idas e vindas e muita hesitação, e sem maiores consequências inicialmente. Com frequência, há que reconhecer, a convite dos próprios partidos, quando exercendo o papel de oposição, num esforço de diminuir sua impotência enquanto minoria eleitoral-parlamentar e tentar machucar o adversário “fora do ringue”, digamos assim. Antes de chegar ao governo federal, o PT mesmo agiu com esse propósito mais de uma vez, assim como o PSDB posteriormente - com ou sem razão substantiva, não importa, porque aqui se examina uma série de atos que, misturada a outros fatores, acabou produzindo resultados não intencionados pelos protagonistas daqueles atos.
(Essas inversões são muito típicas da política e às vezes vitimam até os mais cautelosos: convida-se possível aliado para entrar em campo, apenas para um papel provisório e coadjuvante; então o convidado começa a gostar do jogo e, de repente, agora por conta própria, lá está ele se apropriando do papel principal...)
No que tange o poder judiciário, porém, o modo com que o presente texto tem usado as palavras para descrevê-lo até aqui pode induzir a um equívoco: “ele” é apenas força de expressão. Nada diz sobre sua identidade e, menos ainda, de sua capacidade de agir como “um” sujeito. Todavia, dos poderes constitucionais, é talvez o mais fragmentado, não só por causa da descentralização dos tribunais, mas pelos muitos estímulos para agir sem coordenação uns com os outros, algo que só cresceu ao longo da onda ativista, não raro gerando, a despeito da hierarquia que conserva, a sensação de um conjunto anárquico. Quando não se trata de tribunais - o “Poder Judiciário” num sentido muito estrito do termo -, mas do Ministério Público, com suas diversas instâncias e departamentos autônomos, a sensação é maior ainda, pois ali nem sequer a hierarquia está consensualmente definida. A consequência, portanto, da intervenção do judiciário nas querelas eleitorais e parlamentares, para além de ocasiões raras e devidamente circunscritas, é que suas agências e tribunais, não sendo o judiciário um poder monolítico, terminam por reproduzir em suas decisões aquelas mesmas querelas. Só que enquanto as primeiras encontram sua expressão nos partidos, o que seria de se esperar, porque para isso foram inventados, as segundas vão se fazer com disputas em torno de interpretações esotéricas, mas convenientes, da Constituição, o que é desastroso.
Voltemos ao “presidencialismo de coalizão”. Já se tratou dele como uma interpretação do formato institucional de nosso sistema político; cabe falar um pouco de suas práticas, inserindo-as na hipótese do ciclo político esboçada neste artigo. No primeiro lance do ciclo, a presidência de FHC não contou apenas com a popularidade da política antiinflacionária (o Plano Real). Ela também se protegeu dos riscos de erosão de seu suporte político e institucional, através de um sistema de alianças partidárias mais ou menos consistente. É claro que, ao liderar o polo à direita do sistema político, contou com a boa vontade da mídia, o que não é pouco. Contudo, para o deslanche de sua agenda programática, logo, da capacidade de iniciativa do Poder Executivo, a construção de sua base de sustentação no Congresso foi decisiva. E seus fundamentos foram lançados já na primeira candidatura vitoriosa de FHC: como cabeça do bloco que correu na faixa à direita daquela disputa, o PSDB logrou formar uma aliança não circunstancial, mas estratégica, com o PFL (depois DEM), na época um dos principais partidos nacionais. Estratégica, porque política-ideologicamente consistente. Depois da primeira vitória eleitoral veio a ampliação da base de apoio, com o PMDB, obviamente dividido como sempre, um aliado menos consistente por suas motivações mais fisiológicas, porém ocupando uma posição menos central do que terá depois.
O importante é que o arco de sustentação partidária contava com razoável coordenação orgânica, ancorada em dois partidos dotados de comando nacional, e razoável unidade programática. Esta última não chegou a inibir as práticas tradicionais de patronagem e espoliação do aparato estatal , mas deu ao conjunto da aliança, e não só a seu núcleo elaborador (formado pelos quadros do PSDB e adjacentes), uma razão de ser para além dos interesses imediatos, isto é, um rumo de médio e longo prazo para seguir. Vale lembrar, adicionalmente, que num período de maciças privatizações, a vontade de espoliação poderia ser saciada não tanto pelo uso contínuo das benesses estatais, mas em grandes goles, na intermediação da passagem da propriedade estatal para as mãos privadas. Em outras palavras, o momento das privatizações, além de contar com o apoio entusiasmado da mídia - o que muito colaborou para que deixasse as então denunciadas falcatruas do processo sem investigação jornalística - deslocou, pelo menos por um tempo, a atenção dos espoliadores da disputa por nacos da máquina estatal para a própria intermediação.
Essas circunstâncias tornaram a administração do presidencialismo de coalizão, durante quase todo o período dos governos tucanos, menos complicada do que poderia ser. Mas no segundo lance do ciclo as circunstâncias se modificaram em sentido bem menos favorável. Quando se credenciou para a vitória eleitoral de 2002, o PT ocupava praticamente sozinho toda a faixa à esquerda do sistema político. Não havia nada, nessa faixa, correspondente ao PFL para lhe fazer companhia. Obrigado a garimpar alianças na faixa à direita, encontrou-a num partido pequeno, que adicionou valor simbólico à candidatura de Lula - o empresário José Alencar, seu candidato a vice -, importante para a campanha eleitoral e para a credibilidade da “Carta ao povo brasileiro”, mas que pouco acrescentava em termos de base de sustentação política e parlamentar. Vencida a eleição, o PT teve de se desdobrar para garantir a maioria congressual. É verdade que a aliança com o PL de José Alencar reacendeu o antigo imaginário de um pacto social entre trabalhadores e empresariado nacional, o que se manifestou na ideia de criar um grande “Conselho” reunindo os respectivos representantes oriundos da sociedade civil. Embora tenha dado lastro à pregação “social-desenvolvimentista” do novo governo, esse movimento por si só não conseguiria compensar a falta de apoio consistente no sistema político, uma vez que os partidos de expressão nacional que poderiam candidatar-se à representação do empresariado eram justamente os que tinham sido derrotados na eleição, e só poderiam subsistir como alternativa de poder se se fixassem na oposição.
Restava ao PT buscar a colaboração de pequenos partidos, ou médios na melhor das hipóteses, situados à direita do próprio partido-líder da oposição, além do sempre dividido PMDB. Afora as evidentes dificuldades de coordenar a ação coletiva de um arco tão fragmentado de aliados, tratava-se dessa vez de uma base de apoio bem mais motivada por interesses imediatos do que a do governo anterior, em vista da clara ausência de unidade programática. Exceto no que diz respeito a suas diversas facções internas, que também lhe causavam dificuldades, mas de outra natureza, o PT teria agora de viabilizar o presidencialismo de coalizão combatendo com o auxílio de uma proporção inédita de tropas mercenárias em comparação às voluntárias.
Essas questões projetavam enguiços e patologias graves à sustentação do governo, mas que vieram à tona mais tarde e só se tornaram críticas mais tarde ainda.9 Enquanto isso, Lula e o PT puderam valer-se da renovação da credibilidade do ciclo político, que sua própria vitória proporcionava, para implementar um projeto de governo cujos elementos já foram discutidos neste artigo. Foram tão bem-sucedidos nisso que as armadilhas que deixaram ao longo do caminho, embora não desarmadas, foram insuficientes para causar danos eleitorais irreversíveis, pelo menos enquanto Lula esteve à frente do governo. A crise do chamado “mensalão”, em 2005, tinha toda a aparência de conseguir levar aquele governo à lona mas, como os fatos se encarregaram de mostrar, não atingiram sua raiz e, dispondo ainda de muita terra e adubo, só precisou de tempo para crescer outra vez. Seria uma tremenda ilusão, no entanto, pensar que esse resultado se deveu apenas aos talentos pessoais e intransferíveis do chefe. O dado mais importante é que o governo e suas forças de sustentação ainda tinham algo a oferecer à sociedade, especialmente às classes populares, numa conjuntura econômica também favorável. Esta última, sem dúvida, um dado decisivo, mesmo que se revelasse circunstancial: senão de que outro modo se poderia beneficiar os mais pobres sem ferir interesses vitais dos mais ricos, base dos índices inéditos de aprovação do governo e de suas sucessivas vitórias eleitorais?
Porém, tal como no lance tucano do ciclo, quando os discursos e as práticas do governo foram se tornando repetitivos e autocongratulatórios, deitados que estavam no “berço esplêndido” do Plano Real, o lance petista também corria o risco do desgaste pela repetição. E aí sim o barulho das insatisfações acumuladas - para começar no interior das classes médias, como registrado acima - começaria a se fazer ouvir e surtir o efeito que ainda não tinha produzido. Talvez temendo esse risco e ciente dos efeitos negativos que viriam do agravamento da crise econômica internacional - e provavelmente motivada para desviar-se da sombra pesada de seu antecessor, dando a seu governo um aspecto mais afim a seu perfil e estilo - a presidente Dilma Rousseff topou carregar nas tintas do desenvolvimentismo prometido pelo PT, mas até então assumido com timidez. O que implicava resgatar o imaginário da aliança dos trabalhadores com o empresariado nacional, sob os auspícios do Estado, sugerido na primeira eleição de Lula.
Mas até ali a aliança ficara de fato limitada ao imaginário, uma vez que o Estado havia assumido apenas a sustentação da renda e do consumo popular, com suas políticas de crédito, transferência de renda e aumento do salário mínimo, sem exigir dos empresários sua participação em uma política industrialista forte, voltada para uma dura competição dentro e fora das fronteiras nacionais. Até ali, bastava-lhes entrar com a oferta de bens e serviços e em seguida faturar, pouco importando se isso se fizesse com um parque industrial próprio ou alheio. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), iniciado no segundo governo de Lula, parecia indicar um outro rumo, mas foi a equipe econômica de Dilma que levou a coisa a sério. Em que sentido? Tentando um “pacto” ou parceria efetiva com o setor industrial, através de uma política de induções e incentivos: desoneração de impostos de manufaturados e custos trabalhistas, linhas de crédito especiais do BNDES para a formação ou reforço de “multinacionais” brasileiras, represamento do preço dos combustíveis e - num lance mais ousado e voluntarista, bem ao estilo da presidente - uma política agressiva de baixa dos juros e do preço das tarifas elétricas. Ao tomar essas iniciativas, o governo parecia improvisar uma meia volta ao nacional-desenvolvimentismo. E o fazia cumprindo antecipadamente a sua parte, com medidas anunciadas em cerimônias que reuniam representantes sindicais e empresariais, certo de que sua boa vontade seria correspondida. Porém, ao chegar a hora da contrapartida, pouco se viu dos empresários em termos de esforço e investimento para reverter o quadro desanimador da indústria. A “burguesia nacional” parecia mais uma vez faltar ao encontro... De modo que a política de indução e estímulos ficou reduzida ou a uma oportunidade de ganhos empresariais sem custos, ou a uma política adicional de incentivo ao consumo.
Sabemos o que daí se seguiu: com o fracasso da virada industrial, mais os efeitos que já se sentiam da crise internacional, causando o declínio dos ganhos com a exportação de commodities, a economia brasileira foi perdendo fôlego, ao passo que o governo esgotava seu arsenal de alternativas e capacidade financeira para fazê-la reavivar. Com crescente hesitação, o governo ainda continuou girando a chave de ignição para tentar ligar o motor da economia, mas sem sucesso. No final de 2014, mesmo com a presidente reeleita, a bateria estatal já estava descarregada ou a ponto de descarregar...
Todavia, já do meio para o fim de seu primeiro mandato, Dilma teve não só de começar a absorver o impacto das dificuldades da economia, como também lidar com efeitos perturbadores do próprio sucesso das políticas consagradas no governo de seu antecessor. Estas últimas, por certo, promoveram o progresso das condições de vida das camadas mais populares, quando não também seu upgrade na hierarquia das classes. Eram o resultado, como vimos, de uma combinação heterodoxa de justiça social com um liberalismo induzido pelo Estado. Porém, justamente seu sucesso agora trazia à baila novos fenômenos e novos problemas sociais que vieram se juntar a antigos. O fato é que mesmo a discreta mobilidade social havida - que muitos, equivocamente, chegaram a tratar como a emergência de uma “nova classe média” - encontrou o Estado brasileiro despreparado para acolhê-la. A começar, do ponto de vista puramente quantitativo: mais gente passa a adquirir bens de uso privado, como automóveis, computadores, passagens aéreas, serviços de turismo etc, sem que a essa ampliação correspondesse uma infraestrutura pública adequada. Mas também do ponto de vista qualitativo: mesmo com um aumento considerável do investimento na educação, na saúde e na segurança pública, feito em anos anteriores, esses e outros serviços públicos continuavam muito precários. Como se não pudessem fazer mais do que enxugar o gelo. Já o discreto deslocamento para cima da faixa de renda de milhões de famílias, ao ampliar a expectativa de um padrão de vida melhor, só fez aumentar a percepção daquela precariedade. Tudo isso, somado, aguçava uma consciência difusa e massiva, especialmente, é claro, nas classes beneficiadas, das fragilidades do avanço obtido até ali e das possibilidades de sua regressão.
Se o acesso ampliado a bens e serviços misturou grupos sociais que, no Brasil, raramente se vê, o relativo estreitamento do espaço comum para desfrutá-los não ajudou em nada a transformar o encontro não programado em pelo menos uma oportunidade de interação civilizada. Pelo contrário, a questão, neste caso, somava a tensão entre as classes com o aumento das chances de atrito entre as pessoas independentemente de sua origem social - nas ruas e estradas apinhadas de automóveis, nos aeroportos e rodoviárias lotadas... -, até porque prevalecia a expectativa de fruir separadamente bens privados e não o ambiente comum, que lhes servia apenas de instrumento. Assim, antes mesmo de ver-se saturado em termos físicos, o espaço público já se encontrava atrofiado em termos simbólicos por conta da orientação coletiva prevalecente.
É este o pano de fundo da explosão de protestos sociais a que o país assiste a partir de junho de 2013, mais intensos e massivos naquele mês, mas que das metrópoles vão escoar por todos os cantos, quase virando uma rotina nos meses subsequentes. Por sua composição social majoritária, tais protestos revelavam, para retomar algo já mencionado aqui, a heterogeneidade e os conflitos no interior das próprias classes médias brasileiras. Por um lado, os protestos gritavam por uma transformação do estilo de vida dominante nas metrópoles, com prioridade ao transporte público, aos espaços abertos, às ruas ocupadas por pedestres e ciclovias, à preservação do meio ambiente: era a porção progressista das classes médias reclamando o “direito à cidade”. Por outro lado, os protestos também gritavam contra o governo e as mazelas da política partidária e eleitoral, contra a corrupção, contra os impostos que as financiavam, enfim, contra a hipertrofia do Estado e suas consequências nefastas. Apesar de refletir em certos aspectos um sentimento comum, desse lado prevalecia a classe média conservadora. Embora falassem línguas muito diferentes, chegaram a ir ao mesmo tempo para as ruas, e só lá, quando as usaram para se xingar mutuamente, perceberam que eram inconciliáveis.
Os protestos reduziram abruptamente a popularidade da presidente - a despeito de relativa recuperação posterior -, e perturbaram as lideranças políticas; as da oposição, despertando-a de sua sonolência, assim como as da base governista que, aterrorizada, passa a reavaliar as vantagens de sua fidelidade. Junho de 2013 marca, portanto, a desagregação da capacidade de iniciativa do Poder Executivo para mover os demais poderes. O presidencialismo de coalizão começava a mergulhar em sua crise mais séria em vinte anos.
O predomínio da pauta da corrupção
Difícil reconstituir neste espaço o escândalo que agora atinge a Petrobras, mesmo porque sua trama complicada ainda aguarda maiores esclarecimentos. Não importa. Sua extrema gravidade já é fato pela crise política que desencadeia, ao bater em cheio no PT mais uma vez e, por consequência, no atual governo. O tema da corrupção, que vem tomando a agenda pública desde o escândalo do “mensalão”, atinge seu clímax.
O ponto suscita duas ordens de reflexão, uma mais geral, sobre o estado de saúde de nosso regime democrático, e outra sobre o futuro das esquerdas e do PT.
A tomada da pauta por essa matéria é, ao ver deste articulista, o sintoma mais claro do esgotamento do ciclo iniciado em 1994. A vez anterior em que ela ganhara tamanha importância aconteceu na crise que levou ao impeachment de Collor. Ela selou, por todo o ciclo político que então se abria, o destino do conservadorismo herdado da ditadura e reagrupado em torno daquele governo. A própria elevação de Collor à presidência parecia uma anomalia do processo de redemocratização, que seguia outro rumo. Resolvida a crise com sua renúncia, beneficiaram-se todas as forças progressistas que haviam lutado contra a ditadura. O conservadorismo a ela atado, real ou imaginariamente, viu-se a partir dali condenado ou ao ostracismo ou a linha auxiliar das alternativas políticas viáveis. Isso explica o que levou PSDB e PT - até ali, apesar de todas as divergências, participantes de um campo comum - a disputar ferrenhamente o eleitorado e a opinião pública, liderando os polos opostos do sistema político. Não só por conta de certas áreas de afinidade, mas até para viabilizar-se na disputa eleitoral, o PSDB acabou ocupando o vácuo deixado pelo conservadorismo, porém com as peculiaridades já apontadas neste artigo. Desde a ida de Lula ao segundo turno das eleições presidenciais de 1989, o PT estava fadado a ocupar o campo esquerdo do regime, qualquer que fosse o arranjo geral em que se acomodasse. Quanto às direitas propriamente ditas, passaram, no âmbito partidário e parlamentar, a buscar guarida no manto protetor de um desses polos, por razões mais estratégicas e programáticas no lance tucano do novo ciclo, e depois por razões puramente fisiológicas, no lance petista. Como se vê, não seria nesse âmbito que conseguiriam recuperar sua vitalidade ideológica.
Foi durante a crise do impeachment de Collor que o PT e vários intelectuais de sua esfera de influência decantaram o discurso da “ética na política”, parecendo confirmar o epíteto “UDN de esquerda” que Brizola ironicamente lhes lançara anos antes. Na época, é claro, o partido beneficiou-se da pauta da corrupção e dela continuaria colhendo dividendos. Mas para que se oferecesse como alternativa de poder, a matéria era pouco cativante, de qualquer forma insuficiente. Primeiro, porque até quase ao final de seu período, os governos de FHC souberam desviar-se das críticas e acusações que esse tipo de discurso rendia. Outras pautas, especialmente a econômico-social, ocupavam o centro dos embates e, enquanto permaneceram fortes nesse terreno, os tucanos puderam sobrepujar as tentativas de acossamento à esquerda. A corrupção só voltou a ganhar algum peso, e bem menor em comparação aos dias que correm, quando a presidência de FHC perdeu impulso e entrou no declínio que levou à derrota de seu candidato a sucessor em 2002.
Em segundo lugar, e mais importante, é que o assunto, ou pelo menos o modo como foi posto, simplificava demais o que estava em jogo e, convenhamos, não fazia jus ao repertório tradicional, muito mais rico, da esquerda. Apresentar-se como o polo “ético” das práticas políticas nacionais, ou como sua encarnação, reduzia a disputa política a uma disjuntiva maniqueísta. É que sua ênfase automaticamente projeta sobre o campo adversário o exato negativo da autocongratulação, com todas as conotações que essa divisa carrega: a luta entre os de bom caráter contra os de mau caráter, entre a virtude de um lado e o vício do outro. Aparte o fato de que, muito provavelmente, os traços de caráter das pessoas, suas virtudes e vícios, estejam distribuídos mais ou menos por igual em todo o espectro político-ideológico, é complicado supor que as grandes questões nacionais ou internacionais possam ser, ao fim e ao cabo, engarrafadas nessa divisa. Não se trata, evidentemente, de ir para o outro extremo e dizer que a politica é inimiga da ética, mas de explorar a possibilidade de que a política alce as escolhas coletivas a um horizonte mais amplo, para além das opções típicas do juízo moral.
Para que o debate e a competição política rendam o que podem render, é preciso assumir previamente o que os kantianos chamam de “boa vontade” dos disputantes. Na prática, isso nada tem a ver com dar ou receber um atestado de pureza moral. Significa simplesmente não colocar na frente da disputa o aspecto ético dos atores políticos, sob pena de desqualificar de antemão qualquer conteúdo de alternativas coletivas que cada qual venha a defender, e assim travar a própria disputa. Exaltar ou desqualificar moralmente implica personalizar o conflito, signo maior de sua despolitização cujo ponto de chegada é a atrofia do sentido público da política, especialmente da política democrática. Se personalizar privatiza o conflito, despersonalizar o publiciza, torna-o um problema que cada cidadão pode reconhecer como seu, isto é, algo que concerne a todos.
É um infortúnio, e por que não dizer uma tremenda ironia da história, que boa parte das esquerdas brasileiras, a começar o PT, tenha sido a primeira a alçar a bandeira da ética para o centro de seu repertório. Porque ao fazê-lo tornou possível identificar seu rico conteúdo programático, suas alternativas de política, com as pessoas que o defendiam ou viessem a defender, quando a bem dizer esse vínculo é apenas circunstancial. Como se abraçar crenças ou posições de esquerda blindasse por encanto os nomes de seu defensores de toda e qualquer mazela moral, e franqueasse essas mesmas mazelas somente aos de crenças ou posições contrárias. Na sequência dos eventos, o mundo revelou-se bem mais complicado.
Quer isso dizer que a corrupção não possa ser assunto digno da política? De modo algum. Nenhum assunto é “político” em si mesmo, porque a política não é uma coisa. Pode-se politizá-lo ou despolitizá-lo. O risco da pauta da corrupção é que ela pouco precisa para degradar-se em empreitada moralista, em vez de preservar-se como um assunto acima de tudo institucional. Para mantê-lo aí, não há outra saída senão dizer que, quando um sistema político está contaminado por práticas corruptas de todos os lados, sua descontaminação não se dará com a emergência de supostos “homens impolutos”, acima de qualquer suspeita, mas com a profunda reforma do próprio sistema. A qual, diga-se de passagem, não vai livrá-lo para todo e sempre da corrupção - promessa típica dos demagogos -, mas se espera torná-lo bem menos exposto a ela. Nesse terreno, a corrupção é tão importante na agenda democrática, e não mais, quanto o são as políticas de transparência, prestação de contas, acesso à informação, financiamento das campanhas eleitorais - numa palavra, tudo o que possa contribuir para que o cidadão confie nas instituições públicas, e não apenas em pessoas.
Mas foi precisamente pelo caminho oposto que a pauta da corrupção tornou-se predominante na opinião pública. Sempre carente de notícias espetaculares, a mídia fez dela matéria própria à espetacularização. Desse modo de tratar a questão pegaram carona setores do Poder Judiciário, inclusive de dentro de sua instância máxima, onde se destacam personalidades que se oferecem ao público, e talvez acreditando nisso intimamente, não como representantes da lei, frágil instituição humana, mas como vingadores da Justiça ou a própria emanação Dela. Essa tendência letal é favorecida até pelos atores do sistema político, os partidos e suas lideranças, ao reduzirem seus discursos a uma retórica de limpeza moral cujo sucesso dependeria da exclusão do outro (o adversário partidário) através de seu envio direto às barras do tribunal. Em outras palavras, reduzindo a disputa interpartidária a uma questão de direito criminal. Se todos dizem que “corrupto é o outro”, como se pode esperar que o cidadão comum, o eleitor, entenda o que realmente se passa? Como esperar que alguém não organicamente vinculado a esse ou aquele partido, isto é, a grande maioria, porém disposto a ser convencido por suas propostas objetivas para o país, venha a acreditar naqueles dizeres? Em meio a essa neblina espessa, é mais razoável que não confie em ninguém e passe a considerar que essa retórica nada mais é que hipocrisia, à qual todos os participantes da refrega estão prisioneiros.
Porém, impotentes eles mesmos para ajuizar sobre a questão, esses cidadãos comuns, os governados, veem-se induzidos a abrir mão de seu papel soberano de confirmar ou retirar os governantes de seus postos, para que os tribunais o façam, de modo a resolver de uma vez por todas, já que se trata de um veredito de culpa ou inocência, quem é corrupto e quem não é. Este o passo derradeiro da intromissão do Poder Judiciário nas lutas partidárias. Melancolicamente, é assim que os protagonistas do atual ciclo político acabarão selando sua própria sorte, para deixar o centro do palco em benefício de outros. E, se continuarem lá, é porque terão se tornado outra coisa qualquer, menos o que ainda são hoje.
À guisa de conclusão: o próximo lance
Reitere-se: nada do que se falou neste artigo põe em questão o regime democrático. Fala-se, isto sim, de uma mutação profunda, que não se limita a uma simples troca de guarda governamental.
Em maior ou menor grau, e com outras peculiaridades, quase todas as democracias em vigor hoje em dia passam por um poderoso teste de stress, sem que deixem de ser alguma modalidade de democracia. Entre os maiores pacientes desse processo estão as esquerdas. É curioso que isso aconteça, depois da eclosão da maior crise sofrida pelo capitalismo desde 1929, de que foi grande responsável a direita neoliberal que orientou a gestão do sistema econômico nas décadas recentes. Mas quem no âmbito político capitaliza de fato a “grande recessão” é uma outra direita, a rigor mais xenófoba do que neoliberal, e que, ao contrário da extrema direita dos anos 1920 e 1930, pretende realizar seu projeto dentro do regime democrático, em vez de derrubá-lo.
Exceto pelos acontecimentos recentes na Grécia e Espanha, que parecem trazer novidades mas demandam tempo para que se saiba a que vieram efetivamente, assistimos a um recuo geral das esquerdas democráticas, em particular os tradicionais partidos socialdemocratas da Europa Ocidental, que parecem viver sua fase terminal. Neste caso, talvez venhamos a descobrir que se trata de uma sequela tardia da queda do muro de Berlim, o colapso da socialdemocracia europeia sendo a expressão da queda da alternativa ocidental e democrática da linhagem mais ampla do socialismo.
Ao contrário, as esquerdas latino-americanos voltaram a viver um bom momento durante os anos 2000. Suas credenciais democráticas, porém, variam de país a país. Quanto a esse ponto, há duas modalidades divergentes: uma semiautoritária, com riscos de se tornar plenamente autoritária, representada pela experiência venezuelana e, meio próximo disso, a equatoriana; e outra nitidamente democrática, experimentada no Brasil, Chile e Uruguai. No meio do caminho, em todo caso mais difíceis de julgar por esse critério, estão as experiências argentina e boliviana. Como parte delas está agora vivendo um período decadente, talvez a caminho de uma derrota de maiores proporções, e como entre elas está a brasileira, vale elaborar a seguinte observação.
Além das circunstâncias mais favoráveis da história do país, a esquerda brasileira teve a oportunidade de passar por um reexame autocrítico profundo de suas práticas antes e durante o regime autoritário. Aglutinadas em torno do PT, a grande maioria de suas lideranças soube constituir dentro de si sólidas convicções democráticas. Apesar disso, dentro de suas fileiras há quem ainda se inspire no castrismo e, mais recentemente, no bolivarianismo venezuelano. Esta observação, que fique bem claro, nada tem a ver com o fato de o governo liderado pelo PT ter uma política de alianças com outros governos latino-americanos, de esquerda ou não, o que envolve considerações geopolíticas e interesses econômicos mútuos que transcendem preferências ideológicas. Outra coisa, bem distinta, são as posições de militantes e quadros partidários quando exaltam as supostas virtudes daqueles regimes, mesmo quando reprimem dissidentes políticos, os ameaçam e os prendem. Já deveria ter sido uma lição das mais elementares e há muito aprendida que, em democracias, o Estado não pode perseguir pessoas ou grupos por se expressarem ou agirem de acordo com suas convicções políticas, tenham elas a coloração que for, esquerda ou direita, contra ou a favor dos governos. Que o governo venezuelano faça isso não é apenas sinal de desespero, mas de incapacidade para reconhecer publicamente seus erros e de intransigência implacável para manter-se no poder a qualquer custo, até mesmo com violência.
É isso que se deseja para a esquerda brasileira e para o PT? Este articulista segue confiante nas raízes democráticas do partido. Mas é bom tê-las bem claro em nossas mentes, porque o período que estamos passando na vida política nacional, e que ainda vamos passar, promete ser dos mais angustiantes e tensos. No momento em que se escreve este artigo, o governo continua sua trajetória descendente, ao passo que o PT vai perdendo seus sinais vitais. A despeito de breves períodos de trégua, o cerco político a esses atores revela-se cada vez mais poderoso. Parece até que unicamente as dúvidas sobre sua consistência para formar uma alternativa de poder evitam um lance mais ousado. Contudo, a continuar nessa toada, com um governo mais e mais debilitado e com as forças que deveriam apoiá-lo em franca desagregação, a crise política em curso ruma para um clímax.
É uma perspectiva desconcertante e sombria, para quem investiu ou nutriu fortes simpatias pelo projeto político, social e cultural iniciado em 2003, com todas as conquistas obtidas, que esteja prestes a ser derrotado do modo como está sendo. Uma coisa é a simples derrota eleitoral, porque incapaz de convencer, com suas propostas e atuação pretérita, a maioria do eleitorado. Outra é a derrota que vem de outro tipo de juízo, que invalida não só o conteúdo, mas a capacidade mesma de uma determinada corrente política de oferecer-se como uma alternativa programática e de poder. Bem diferente de uma alternância normal de governo, é praticamente um expurgo no interior do regime que, no entanto, o afeta em sua inteireza, ao deslocar o leque de alternativas disponíveis e viáveis. Tal como ocorreu com o virtual expurgo do conservadorismo herdeiro da ditadura duas décadas atrás, abre-se um vazio no sistema político, que obriga a inusitados movimentos das forças restantes em competição, novas acomodações e rearranjos surpreendentes. O que ocorre neste momento com a (ex-) base aliada do governo, em particular o PMDB sob a liderança do deputado Eduardo Cunha, é um claro sinal nessa direção. Também o é o provisório realinhamento, no Congresso, dos partidos ou facções de partidos em divisas mais consistentes com suas origens ideológicas, como se os grupos à direita desgarrados do governo buscassem seus afins do outro lado, na oposição, e vice-versa, com os grupos à esquerda na oposição buscando seus afins na base do governo. Algo semelhante a um momento de política constitucional, e não de política ordinária.10
Por isso se expôs aqui a hipótese de estarmos vivendo uma crise de regime, que move suas placas de sustentação mais profundas e o conduz para um novo ciclo político. Não sabemos ainda, nem temos como saber, que formato estável ele terá, que relações os poderes constitucionais estabelecerão entre si e quais serão os partidos protagonistas do sistema político. É possível que nem voltemos a ter um puro regime de partidos, mas vejamos a consagração de um regime “misto”, dos partidos e dos tribunais (com a confirmação de seu ativismo), tal como vem se ensaiando nos últimos anos. Porém, uma coisa é quase certa, pelo desfecho que se desenha: será um regime de teor bastante conservador, eventualmente moderado pelos tribunais (se a forma “mista” vingar). E não será tão espantoso se encontrarmos, dentro de poucos anos, partidos ou facções de partidos hoje situados à direita reposicionarem-se, por causa do deslocamento de fundo, mais para a esquerda no leque de alternativas viáveis no interior do sistema político.
Para ir um pouco além da projeção de cenários, esta conclusão dedica suas últimas linhas para retomar, com muita brevidade, o fio da discussão sobre o que saiu errado nesse período em que o PT esteve (e ainda está) à frente do governo nacional. Em vista das chances crescentes de um desfecho nada feliz, para o partido, da crise atual, um balanço mais profundo e abrangente ainda terá de ser feito. O único aspecto que se quer destacar aqui é aquele que causa o golpe mais duro em seu prestígio: a corrupção.
Neste momento, a maioria das lideranças e militantes do partido tem se dedicado a outro assunto, tão complicado quanto, porém menos constrangedor: criticar o pacote fiscal, tremendamente recessivo, que Dilma Rousseff e sua equipe lançaram para fazer frente à crise econômica. Supõe-se que essas críticas, se ouvidas, poderiam dar uma sobrevida ao governo, ou até retirá-lo das cordas, se aliviassem os efeitos da crise sobre os mais pobres. Hipótese muito duvidosa, porque a alternativa que se vislumbra dessas críticas é, no essencial, a continuidade da política econômica anterior, que já não havia dado conta dos problemas que foram se acumulando até o ponto em que chegamos. Mas vá lá, admitamos que elas procedam. Ainda assim, elas estarão longe de tocar nas questões principais. No máximo, representarão tentativas, à beira do desespero, de o governo ganhar tempo ao reduzir a frente de resistências, pelo menos dos setores sociais que ainda poderiam ajudar a sustentá-lo.
Mas por que não tocam nas questões principais? Porque o que dilacera o governo e o partido que o vem (ou vinha?) sustentando não são eventuais erros na formulação das políticas públicas, no campo econômico ou em qualquer outro. Isso é secundário. Aliás, no cômputo geral, só os críticos mais conservadores, e os da ultraesquerda, diriam que os governos petistas mais erraram do que acertaram nesse terreno. Mas é preciso olhar de frente o fenômeno da corrupção. Certamente, não pelo enfoque moralista e espetaculoso em que é lançado à opinião pública. No entanto, ainda que boa parte do que é informado nos escândalos midiáticos fosse falso ou parcial, a própria reação do partido, incapaz de explicar o que acontece até mesmo a seus militantes, já é reveladora de sua gravidade. Igualmente revelador é que o escândalo de 2005, o chamado “mensalão”, que pôs a nu tantas vulnerabilidades, não tenha produzido nenhuma modificação importante na conduta do partido, uma vez que muitos fatos relacionados aos escândalos atuais indicam comportamentos que continuaram a se repetir mesmo depois daquele primeiro.
Antes, portanto, de ser um conjunto de atos ilícitos que predam o patrimônio público, a fim de fazer frente aos custos financeiros da contínua disputa pelo poder político - em particular os das campanhas eleitorais -, o conceito de corrupção que mais interessa discutir, para um balanço crítico, é aquele que corrói as entranhas do próprio partido e do governo que lidera. E que degrada todas as suas relações: dele com o Estado e a sociedade e dele consigo mesmo. É essa corrupção que não apenas retira sua legitimidade para continuar governando o país, mas dissipa suas energias vitais, a própria seiva que poderia levá-lo a fazer frente às dificuldades e renovar sua capacidade de continuar oferecendo frescor e novidade à sociedade brasileira.
A bem da verdade, é possível observar uma relação profunda entre a predação do patrimônio público e os atos ilícitos correspondentes, e a degradação interna do partido. Voltemos, para discutir esse ponto, à questão, aludida no meio do presente artigo, da arregimentação de “tropas mercenárias” no Congresso Nacional, levada a cabo para garantir as condições de sustentação previstas no presidencialismo de coalizão. Naturalmente, não se poderia fazê-lo sem a arrecadação de muito dinheiro, cuja fonte mais rápida e, à primeira vista, menos trabalhosa, é a tradicional promiscuidade entre poder econômico e aparato estatal. É muito provável que a liderança do partido estivesse confiante de que, apesar dos riscos políticos envolvidos - inclusive o de ser descoberto -, poderia valer-se daquele expediente mantendo a si e o conjunto do partido imune a seus efeitos degradantes. Bastaria que conservasse, como se diz, a “linha correta”.
Essa confiança, porém, revelou-se tragicamente ilusória. É como se as lições de Maquiavel sobre o uso de tropas mercenárias ecoassem, mesmo de longe, nesse imbroglio. O problema não é simplesmente a baixa qualidade moral dessas forças: “desunidas, ambiciosas, sem disciplina, infiéis, valentes entre os amigos e vis diante dos inimigos”; da qual resulta que “na paz se é espoliado por elas, na guerra, pelos inimigos”...11 Porém, pior do que isso, e o X da questão, é a metamorfose que seu exemplo produz na cidadania da agência coletiva que passa a depender delas, dos chefes aos cidadãos mais simples. Obviamente, Maquiavel tratava das cidades, seus habitantes e suas forças armadas e, aqui, tratamos de um partido de esquerda, seus militantes e sua capacidade de luta. Mas o efeito é incrivelmente análogo. De resposta, inicialmente pontual, a uma pressão externa, esse expediente de comprar auxílio alheio vai aos poucos difundindo-se por todos os campos de atividade da agremiação. E acaba por contaminar moralmente sua vida interna, ao trazer para dentro de si, na relação entre os próprios companheiros, o espírito do mercenarismo. Não apenas os militantes voluntários, movidos por ideais programáticos e não pelo soldo, perdem o interesse nos destinos da agremiação e se afastam, mas os que ficam passam a adequar sua conduta àquele espírito. Em outras palavras, passam a servir como, ou buscar o serviço de “soldados da fortuna”, dessa vez não para a defesa externa da agência, mas para a expropriação de seus valores constitutivos. Para quê? Para subordinar a própria agremiação a um senhor, uma patota qualquer de militantes que se torna poderosa justamente pelo acesso privilegiado aos recursos do soldo.12 O resultado é duplo: o enfraquecimento, senão extinção, do vigor cívico interno, no mesmo compasso em que a agremiação se torna um mero aparato de poder, literalmente uma “máquina” (uma entidade sem alma), e o interesse permanente de não mais recuperá-lo, porque ameaçador dos interesses estritamente privados dos que dela se apoderaram.
(Detalhe: não é certo que mesmo aqueles que, dentro da agência, vierem a ter o acesso privilegiado aos recursos do soldo se tornem os verdadeiros donos da agremiação. O princípio que norteia o espírito mercenário é “quem paga, manda”. Mas quem recorre a tropas estrangeiras não acaba tendo de recorrer também a recursos estrangeiros? Por aí se encontrará a fonte de seu poder e seu verdadeiro senhor.)
Eis como a predação material do patrimônio público, promovida por um partido qualquer, e justificada como um expediente de legítima (embora ilícita) defesa deste último contra partidos adversários, se converte em veneno mortal contra si mesmo. Enfim, os mesmos valores - igualdade e liberdade, condição de publicidade etc - que oxigenam e protegem a república da apropriação privada por uma personalidade ou um grupo, são os que também oxigenam e protegem os próprios partidos, que nela atuam, de semelhante apropriação. Embora com frequência assim não apareça de imediato, no fundo o destino da primeira está atado ao dos segundos. Isso significa que uma república corrompida produzirá partidos internamente corrompidos, e vice-versa.
Mas como sair desse círculo vicioso se quisermos chegar a uma república saudável? Teríamos de esperar pela eclosão de um evento extraordinário, um deus ex machina qualquer, tal como o aparecimento de uma liderança extraordinária que se sobressaísse de todas as demais, livre das fraquezas comuns aos seres humanos e capaz de em definitivo colocar as coisas em seus devidos lugares? Se somos incapazes de acreditar em candidatos a super-homens, como o autor destas linhas, há que se abrir mão de explorar tais saídas.13 Afora isso, porém, a única saída razoável seria aquela em que todas as partes adversárias, pleiteantes do poder político, se dispusessem a pactuar e observar um acordo básico sobre as regras desse pleito, aptas a conformar uma república, senão saudável, pelo menos ordenada. (No caso brasileiro, uma ordenação cujos princípios já estão assinalados em nossa Carta Magna.) Por mais razoável que fosse, seria também uma saída factível, realista? Ciente dos enormes empecilhos, este articulista, francamente, não saberia responder a essa pergunta sem refletir mais. Por enquanto, só se sente seguro para reiterar a parte negativa que, em primeiro lugar, deu ensejo a ela: se esta avaliação da experiência petista faz sentido, é autodestrutivo o caminho de infligir um suposto mal menor a fim de produzir o remédio para um mal maior, isto é, de predar o patrimônio da república a fim de que uma república mais saudável - “socialmente mais justa”, ou o que for - advenha em seguida. Mas não é uma lição de cunho puramente moral o que se pretende aqui, e sim parte de um balanço mais amplo que leve em conta e, ao mesmo tempo, defina os limites políticos de um projeto transformador, progressista, como aquele que inspirou o PT.
Lançados os dados, resta ao partido e a seus apoiadores preparar-se tanto para o melhor quanto para o pior da crise política em curso. Provavelmente, se as coisas continuarem como estão, mais para o pior do que para o melhor e, todavia, sem violar as fronteiras democráticas: rejeitando o apelo ao confronto desesperado e com o senso da preservação das instituições da república. E, se quiser reconquistar a confiança de seus cidadãos, lutar com as armas de um discurso mais nítido, vale dizer, mais autêntico e verdadeiro. Se afinal é a questão da corrupção que de fato minou essa confiança, cabe preparar-se para discutir abertamente os passos errados que, dados pelos dirigentes ou permitidos a outrem, teriam levado ao descalabro e descontrole atuais. O que implica renunciar à tergiversação que obriga a dizer, com um certo desdém à inteligência comum, que as denúncias que se multiplicam são pura e simples conspiração dos adversários, ou escorar-se na desculpa, por verdadeira que seja, todavia patética, de que “todo mundo faz ou já fez, mas apenas nós estamos indo para o banco dos réus”.
Tais subterfúgios só ajudam a prolongar a agonia, sem nenhum ganho no sentido de recuperar a credibilidade de quem interessa. Para esse intento, só a franqueza e a disposição para a autocrítica pública resolverão.14 Como gesto de grande valor simbólico, melhor seria que o governo e o PT o fizessem com um pedido de desculpas ao povo brasileiro, em alto e bom som e, aí sim, mais leve, aguentar o tranco. Se for preciso recomeçar, que assim seja; o que é muito distinto de “voltar às origens”, porque isso significaria fazer tudo outra vez sem levar em conta o que se aprendeu no meio do caminho.15 Voltar às origens é a rigor impossível, mas alimenta a nostalgia e, por isso mesmo, não renova. Recomeçar se for o caso, mas para algo diferente.
São Paulo, junho/julho de 2015
|
![]() TEORIA
TEORIA![]() CULTURA
ISSN 2236-2037
CULTURA
ISSN 2236-2037![]() TEORIA
TEORIA![]() CULTURA
ISSN 2236-2037
CULTURA
ISSN 2236-2037