POLÍTICA![]() TEORIA
TEORIA![]() CULTURA
ISSN 2236-2037
CULTURA
ISSN 2236-2037
POLÍTICA![]() TEORIA
TEORIA![]() CULTURA
ISSN 2236-2037
CULTURA
ISSN 2236-2037
|
|
Alexandre de Oliveira Torres CARRASCO |
Os limites da política: Merleau-Ponty e Claude Lefort |
|
Coruja Vôo onde ninguém mais – vivo em luz mínima ouço o mínimo arfar – farejo o sangue e capturo
Pensando a óbvia relação entre Merleau-Ponty e Claude Lefort, seria possível, eis a questão, pensar uma passagem, uma fronteira a fazer referência às mudanças do pensamento político na Europa e no mundo, nos dois últimos séculos e meio, mediante à articulação de um problema mais geral e um obstáculo aparentemente objetivo. Desse modo: inicialmente, o que poderíamos nomear da antecipação merleaupontiana em relação a um fim de um ciclo intelectual, prático e teórico, que seria, como segue sem suspense, o esgotamento da filosofia da história como chave (quase) exclusiva de compreensão (e autocompreensão) da experiência europeia, e todas as implicações especulativas que isso pressupõe. Somando-se a isso, nosso obstáculo objetivo, o bloqueio, por assim dizer, “real” (eis o segundo elemento), da política revolucionário pós-1945. Não por acaso: no início e fim desse largo ciclo, os direitos do homem – da revolução francesa à crítica aos totalitarismo do leste. ***
Na “ação que se inventa”, a ideia chave da relação permanentemente contingente entre meios e fins, segue seu corolário mais óbvio: a política tem uma dimensão subjetiva incontornável, descolada, para tanto, de qualquer determinismo “histórico” ou “historicista” estrito, a subjetividade, como dirá adiante Merleau-Ponty, não é nem pode ser refém da álgebra da história, o que significa que nem a história o é.
Falamos afinal daquilo que apenas surge mediante a própria ausência, do que não temos senão a acerba consciência tardia, abusando dessa palavra famigerada, e cuja mesma consciência, ao emergir, não traz consigo o objeto suposto, porque não há mais objeto que supor. É apenas a perda do objeto que a torna possível, em parte, reconheçamos, subvertendo o próprio sentido da consciência. Daí o amargo desse reencontro. E esclareçamos: nem em aparência aqui se trata do malfadado voo de Minerva, feito depois das realizações do espírito. O que minerva acaso visse, se ainda voasse, ela não compreenderia. Em larga medida também são essas as aventuras da dialética. Façamos o seguinte recorte:
A desincorporação de que fala Lefort não é mera abstração, igualmente moderna como experiência e instrumento, e cuja a linhagem remontaria até Montaigne facilmente, ainda que se possa entender a abstração de que falamos como pressuposto da desincorporação acima referida. Trata-se, antes, a última, de um dispositivo crítico de outra ordem, que inauguraria a modernidade política, por assim dizer, e que pode ser entendido como efeito de um processo de longa duração a tornar possível “incorporar” a primeira abstração à vida do poder e à experiência política. Em que pese o flerte à narrativa de Tocqueville, por parte de Lefort (talvez mais que flerte), a execução de Luiz XVI (um bom rei aliás) pode servir de figuração de enorme poder retórico, que na modernidade entra em sinonímia com o político: o espaço do político e o espaço da política não têm corpo, não só não têm corpo, eles prescindem de um corpo. O ato político de tomar o copo do poder não equivale a trocar-lhe o corpo. O que ele produz é a emergência da consciência política moderna de que o poder, o político, a política prescindem de corpo, ainda que vivam a fantasiar um corpo cuja crítica deve assegurar que não lhes pertence em sentido próprio. No processo revolucionário, o corpo que se descobre são os corpos particulares. Assim não parece tão inusitado que na ausência do corpo do rei, no caso da Revolução Francesa, o Comitê de Salvação Pública acabe por lhe ocupar o espaço, e por um momento, todo o espaço possível para o exercício do poder, mas não perdure nesse espaço pois não lhe pertence em sentido próprio. O sentido crítico da posição lefortiana em relação à revolução é que ela não é propriamente o momento da emergência do “poder popular” ou mesmo da luta de classes, que ele reconhece haver, ela o é, mas apenas de maneira inadequada, em claro sentido especulativo. Seja o poder popular, a nova figura da soberania na experiência política moderna, seja a luta de classes, elas não esgotam o pressuposto último da experiência política moderna: a desincorporação do poder. O que seria próprio da revolução é a descoberta do espaço político como espaço vazio. Não é mais a inédita mobilidade das classes que cristaliza a experiência moderna e, por extensão, a experiência política moderna, uma das formas de figurar a negação da negação. É o reconhecimento da falta de pressuposto da ação política e o pensamento e a ação que cabem a partir desse reconhecimento. A partir daí, a tomada do poder não é garantia de sua permanência (não devolve o corpo agora fetichista do poder, nem a ingenuidade perdida dos súditos). O exercício da política significa aceitar que se corre permanentemente o risco de se agir sem fundamento, sem substância. Esse é um dos corolários mais evidentes da desincorporação da política (ou o “toda política é opinião”, das Aventuras da dialética). Na versão otimista, esse processo devolve ao súdito seu corpo-próprio, e, mais do que isso, devolve ao súdito o sentido político de seu corpo-próprio, e parece-nos que daí também é possível fazer o elogio e a defesa da sociedade civil e sobretudo dos direitos do homem: o corpo, se é bem intangível e inalienável de cada um, reconheçamos, uma invenção moderna, também é igualmente bem político intangível e inalienável. É com ele que se desloca ao espaço do poder e o ocupa, sempre provisoriamente, embora, sendo corpo-próprio, ele não ofereça corpo ao espaço do poder, ele não pode oferecer corpo ao espaço político. É o meu corpo que põe o vazio do corpo do soberano. Não por acaso, o problema da violência revolucionária está intimamente ligado à compreensão dos direitos do homem como política. Ora, esse processo – da abstração à desincorporação –, a atingir o coração da política, produz o mais notável dos efeitos: ao separar o poder, da lei e do saber, cria-se as condições necessárias para a experiência democrática, a feição por excelência que toma a experiência política moderna. Não se trata, afinal, da discussão de formalismos que definiriam uma forma de governo. Trata-se das condições substantivas para a ação democrática: que cada um tenha o corpo, um corpo. Que a política o mobilize, mas não o subsuma, não o totalize. Da skpépsis moderna de Montaigne à revolução francesa, faltaria, porém, compreender como o cinismo ilustrado do Sobrinho de Rameu, efeito do mesmo processo, poderia ser entendido não apenas como o efeito cômico (e, em alguma medida, subjetivo) da abstração moderna, como simples desincorporação do poder do soberano nos modos e nos costumes. Ora, a internalização cínica da ausência de substância do poder e a assunção igualmente cínica de que há apenas interesses pode produzir como avesso cômico uma vontade geral que é paródia, um bem comum que é uma piada. E se eu me valho da opinião, moeda corrente da vida animal do espírito, para me dar o corpo que me convêm, afinal sou um cínico, aonde me levaria a mera desincorporação do poder? É certo que há totalitarismos e populismos por aí para justificar essa nova posição do entendimento – o gênio maligno é anterior ao fetichismo da crítica da crítica, reconheçamos. *** Retomemos Merleau-Ponty, demarcando agora os limites da dialética. No conhecido final de As aventuras da ialética, Merleau-Ponty fará uma mea culpa em relação ao que, em outro momento, ele chamou de attentisme marxiste. Nesse outro momento ele glosava o tema clássico da violência (Humanismo e terror11 ) e suas consequências e desdobramentos políticos. Do que se tratava exatamente na passagem merleaupontyana de 1947 a 1955? De que modo lidar e compreender uma tradição legada, a dialética, ou certa tradição dialética, que comportava uma especial constelação de temas clássicos, a filosofia da história, seu corolário político, a saber, a classe universal e sua política, a lógica da história e sua álgebra, e, sobretudo, o tema mais “exterior”, a violência revolucionária (a submissão do corpo, seu e do outro, à lógica da história). E, porque se trata de dialética, o problema mais exterior passa a ser o central: como lidar com a suspeita de seu esgotamento, da filosofia da história e da dialética, no que tange ao que orbita em torno de e da história bem como da própria violência? A estratégia merleaupontyana pode parecer excêntrica, mesmo para os desenvolvimentos dialéticos, mas não é imotivada: pela violência Merleau-Ponty amarra dois nós essenciais para sua reflexão: o corpo e a subjetividade. O quanto da história pode legitimamente violar e avassalar um corpo vivo, e a subjetividade que lhe é sucedâneo, essa questão (seja o debate entre Hegel e Kierkegaard, seja a política dos intelectuais pós-68) já está completamente dada em Merleau-Ponty. A novidade dessa retomada do tema da violência revolucionária em As aventuras da dialética seria que, a partir desse último balanço, esse registro não seria mais direto, da história e da filosofia da história, – seja porque esses temas perderam seu “realismo de primeiro grau”, seja porque mediações políticas de outra natureza faziam às vezes daquilo que seria a álgebra da história, em suma: ninguém suficientemente atento ao pós-guerra e seus arredores poderia, passado o primeiro furor, apostar todas suas fichas em uma revolução para amanhã ou depois de amanhã. A paz europeia já estava em curso e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (1951),12 o começo bem pensado do mercado comum e da união monetária, bem como de uma série de outras políticas multilaterais para a Europa que acabara de sair de uma guerra fraticida, estava ali para mostrar que, de fato, se encerrara a última guerra dos trinta anos. Passado quase sessenta anos foi o que sobrou. Eis que aqui também a verdade é o resultado, o resultado é a verdade. Observemos, contudo, o quanto a agudeza de As aventuras da dialética se dá hoje por detrás de uma imediata (e de difícil remoção) pátina do tempo e quanto o leitor não corre o risco de ver no livro um debate datado (senão vencido), em uma língua, enfim, morta. À sua maneira, MP antecipava a Europa pós-1968 (apesar de 1968), e via no debate “revolucionário” versus “contrarrevolucionário” um esgotamento que, de certo modo, pegaria o radicalismo universitário francês de surpresa, mas sem prejuízos para o maduro comércio de ideias (com pagamento à vista ou à prazo) do que é tributário.
Trocando em outros miúdos, o conceito se dissociou do tempo, o tempo do conceito não é mais o tempo da história. Essa pode bem ser a chave de leitura merleaupontyana para a história do seu tempo, sob as lentes da crise do entendimento.16 Isso que poderíamos chamar de a abstração em Weber, o modo pelo qual o tipo ideal é mera forma purificado do real, e, como tal, não teria objetividade em sentido próprio, teria objetividade teórica, não objetividade prática, produz importantes consequências. Ora, a dissociação entre tempo e conceito, falando ainda em língua dialética, significa que o tempo do tipo ideal (tempo gêmeo da ação ou ações individuais do qual decorre) é um tempo vazio e vazado pela contingência, mas por uma contingência específica. Não a contingência de corte merleaupontyano objeto permanente de elogios – da dúvida de Cézanne ao visível e o invisível, passando, ainda, pelas agruras das experiências das patologias. Aqui, trata-se, antes, de uma contingência que não se deixa preencher por qualquer nexo a posteriori, que não se “dialetiza” (abusando do neologismo), uma contingência que permanece permanentemente separada, afrontando um sentido que certa configuração histórica tornou possível, de modo que o progresso relativo da história possa ser desmentido a qualquer momento. Avançando na análise (que em boa parte tomamos de empréstimo as análises de Ruy Fausto em “Dialética, estruturalismo, pré(pós)-estruturalismo”17 ), a face subjetiva dos valores (o sentido antes que se objetive em um ethos, por exemplo) está completamente dissociada da história, apenas serve de relativo instrumento de investigação. Aqui, a face menor da contingência é a irracionalidade que pode motivar a atividade do agente, à parte de qualquer imanência histórica. A permanência, por assim dizer, da eficácia da atividade (ou o sucesso da atividade do agente da ação) decorre de como se estabelece, a partir da ação do agente e sem recurso a qualquer noção de “objeto social” ou “estrutura inconsciente”, uma constelação de sentido que ligaria precariamente a face subjetiva do agente (a ética protestante) ao seu efeito para-objetivo o espírito do capitalismo. Se existe o tal espírito do capitalismo (sua substância não interessa para a ciência, apenas seu efeito), isso se dá porque ela, a ética protestante, pode (porque a relação pode ser factual, mas não necessária) contingentemente engendrar um processo de acumulação econômica suficientemente eficaz para se tornar sua própria “lei”, que redunde em sua própria reprodução e transmissão histórica (a passagem clássica de um ethos religioso a um tipo de racionalidade econômica).
Essa redução de “força” ao “sentido” é muito menos inócua do que pareceria à vã epistemologia. Organizando a experiência por meio de um tipo abstrato não objetivo, a releitura weberiana das “forças produtivas versus o modo de produção” significa, e apenas significa na medida de sua abstração. O sentido teórico e especulativo próprio do marxismo não haveria, senão como instrumento analítico (nunca sintético, em função do hiato abstrato e intransponível entre a atividade do agente e o sentido posto, que só pode ser sentido posto mediante a purificação abstrata do real e nunca como sua dedução). Reduzir a crítica da economia política a mero instrumento analítico implica naturalmente supor que não haja juízo de reflexão. A crítica não pode ser “prática”, a supor que seu momento propriamente especulativo decorreria de como a prática social pressupõe o juízo de si mesma, o juízo de reflexão. A prática deve operar mediante outros imperativos.
Em Weber, o discurso político do entendimento, a abstração que põe o tipo ideal não pode por o mundo, isto é, a ciência não pode ser “prática”. Igualmente, o mundo posto, não pode por a abstração, senão como recurso analítico subjetivo. A política só pode ser opinião. Essa higiene metodológica é a chave de toda e qualquer política do entendimento. Desse arranjo teórico não se pode “deduzir” uma política. A política que há e sempre há, de qualquer maneira, com ou sem dedução, por impossibilidade de encontrar o princípio no mundo – a fundação só pode ser, segundo o entendimento, ponto de vista e sempre parcial – é ação à parte do tempo, em um tempo que não transcorre, porque nesse agora a política é sempre falta de distância, e o conhecimento, distância infinita.
A glosa merleaupontyana não esgota a questão, por certo, mas recoloca a nota sobre Maquiavel em outra chave. O poder, uma vez instituído, não é, nem poderia ser, o exercício simples da violência sobre o outro – o povo, a multidão, a ralé – um tipo de tirania absoluta, sem resto, violência “pura”, ação “pura”. De fato, um dos pressupostos mais ricos do Príncipe de Machiavel é o reconhecimento de que a luta põe o poder, logo, não há origem que não seja maculada pela violência, pela contingência, e pela fortuna. É o outro da política que inventa a própria política. Mais que isso: o reconhecimento crítico da origem desfaz o mito da origem, a imperfeição da “origem”, por assim dizer, da política é o que determina seu caráter e sua natureza. O esforço da política e do político, o agente desse novo espaço instituído, será sempre passar a outra coisa que seu começo, esquecer a violência e o arbítrio, e repor o poder nos termos do poder, em termos que ela mesma inventa a posteriori: a legitimidade, a doce coerção. Da leitura fácil, “maquiavélica”, dos usos e abusos que o poder faz do outro, já passamos a outra coisa. A alteridade é a chave do poder, e o que cabe ensinar ao príncipe é que há tanto mais poder disponível – e logo, menos violência – quanto mais reconhecimento houver. Nos termos de Merleau-Ponty, o outro não é mais o objeto de que o poder desfruta e dispõe, mediante a mão firme do príncipe. O outro é parte de um conjunto simbólico, em que a figuração do poder, o modo como ele aparece, é reconhecido e ajuizado, dá o ritmo da trama. Nem eu, nem o outro, o príncipe não dispõe, ele repõe todos nós, ele mesmo inclusive, em uma trama do poder. O sentido mais próprio da política, tanto mais eficaz quanto mais o outro se convence que sua posição relativa também passa por sua escolha. É a liberdade que a política instaura.
***
O que Lefort redesenhará como o marco fundante da experiência política moderna – a instituição do poder como instância separada, à parte – estado e sociedade civil, súdito e soberano – Merleau-Ponty antecipa nessas notas (observemos ademais: essa separação lefortiana é uma opção pelo entendimento, e o retorno de Machiavel reforça a tese chave lefortiana: a experiência política moderna é uma experiência do entendimento, a política da razão foi sonho de um século de verão revolucionário): o poder, em sua acepção moderna, é da ordem do simbólico (não só porque é ausência de corpo, igualmente porque não quer ser violência pura) e do separado, e vige como fato na exata medida da sua eficácia. Sua temporalidade é, se se quiser, circular e precária, por isso sujeita mais que qualquer outra à fortuna, e não há ordem do tempo que não seja a de um tempo oblíquo e em alguma medida inerte. O poder sofre de uma “despotência” inaugural, originária – a mera violência, em certo sentido, é fraqueza, não força –, daí sua inorganicidade, sua não corporeidade, já que é a luta e a violência que o põe, como são igualmente a marca de sua separação. A partir daí ele opera para esquecer sua origem e ser o outro de sua origem, ser um modo específico de sedução e, no limite, de coerção dócil. Há um recobrimento do entendimento pelo próprio entendimento, da violência, mera violência, pela legitimidade relativa da violência do poder. Se ele mostra as garras, se for mera violência e abuso, corre-se o risco de perder o que lhe é mais caro, sua eficácia simbólica, o fato de ser poder à distância e poder ser poder a distância – eis a figura mais enfática de nosso teatro de sombras. Há, portanto, violência do entendimento que não é mera violência sem o ser da razão. A crueza do entendimento, nesse caso, parece mais “realista” do que a violência da razão. Essa temporalidade do poder e sua dinâmica, a assunção de seu sentido moderno e portanto atual, é isso que, em filigrana, As aventura da dialética mobilizam: é o entendimento a demarcar os limites da dialética. Ainda que Merleau-Ponty deixe um pé no barco da dialética – fazendo água ou não. Seria a última memória ou registro de uma tradição que se imobiliza? Assim como o Príncipe, de Machiavel, As aventuras da dialética não é um livro prático , de mero conselhos aos príncipe – ainda que assuma vez e outra essa máscara. É outra coisa. É um livro sobre o ocaso de um mundo.
*** Daí podemos passar ao nosso segundo desenvolvimento. Respondendo novamente a questão: por que os direitos do homem são uma política, agora já em versão lefortiana? A resposta é longa, mas bem dada. Podemos resumir: no novo registro temporal que funda o político (nossa hipótese), bem circunscrito os limites da dialética como ideologia da crítica, há instâncias, regiões, por assim dizer, não mais permitidas às operações da não identidade – e a violência passa a ser uma delas. Paradoxalmente, o direito ao corpo, a salvaguarda de si, sob qualquer hipótese, emerge da aposição do entendimento à razão. A dinâmica moderna do poder – sua separação abstrata, tem e com razão, aos olhos de Lefort, um sentido profilático e político: a abstração do homem é todo homem que o tempo põe como possível e simultaneamente é o homem que não é soberano. A desincorporação do “homem” do corpo político é a instância crítica do entendimento que evita a totalização que permanentemente tenta o soberano. A extrapolação dessa tendência é que fornece a teoria do totalitarismo, algo como a forma degenerada da desincorporação do poder, a inversão que pretende transformar o outro em parte de si próprio. A política também se inscreve nesse jogo de abstração e contra-abstração. A “contra-abstração” dita de “esquerda” pode igualmente não ser da ordem da emancipação, pelo contrário, pode ser da ordem da submissão mais radical, da tirania. No arranjo crítico de Lefort, a justificativa da tirania será sempre ideológica, supor que haja uma boa tirania de esquerda e uma má tirania de direita e esquecer o próprio substrato da tirania: o sequestro do corpo do outro como parte do corpo do soberano, da qual ele, o soberano, pode dispor a seu bel prazer. Daí, a crítica ao totalitarismo poder ser entendida como crítica anterior à clivagem entre esquerda e direita. É esse dispositivo abstrato (abstrato e da ordem do entendimento) que permite a Lefort reatualizar – em sentido teórico, bem entendido – o problema dos direitos do homem, menos o ser do homem, mais a potência de si que deve ser preservada na intangibilidade do corpo.
Essa ideia diretora da noção de crítica presente no artigo clássico de Lefort beneficia-se de um movimento de tipo dialético, que poderíamos chamar de reversão, seguindo novamente Ruy Fausto. Ora, a reversão em questão aqui é a que permite, no limite, sublimar o corpo do homem, o ideal da sociedade totalitária, no corpo do soberano sob a justificativa (ideológica) de que a tirania com o homem de hoje fará nascer o novo homem de amanhã. O que a reversão produz é desincorporar os fins dos meios e transformar os meios em seu próprio fim, sem o dizer. Essa é a sociedade totalitária e seu sucedâneo ideológico. À medida que esse material ótimo para a crítica se torna rarefeito, isto é, em que a crítica da reversão entre meios e fins acaba por suprimir os fins – outra operação do entendimento –, à medida que o dispositivo da abstração se “des dialetiza”, Lefort perde potência crítica. Nesse quadro, a política dos direitos dos homem pode ser tornar meio para os mais diversos e excêntricos fins.
Revisemos. Lefort não se furta a reescrever a história da experiência moderna e seu sentido político. Assumamos assim em sentido vago aquilo que se dá a partir invenção do mercado mundial, com todos os seus antecedentes e seus consequentes, mais os pressupostos que são exigidos para tal e tanto, por meio de algo como uma etnologia do poder: é o poder como espaço simbólico do exercício de uma violência simbólica, e que mesmo sendo simbólico não prescinde da borduna, e, ainda que mitigado de si para o outro, do outro para o si, organiza a luta de aproximação e enfrentamento, de autonomia e sujeição, que acirra e pacifica o contato dos homens entre si e dos homens com o que lhes submete. Será dessa etnologia que se deverá fazer uma etnografia. A revolução francesa será menos o lugar da tomada da soberania pelo “povo” e mais o lugar em que se descobre o lugar vazio da própria soberania, que pode ser ocupado ou não, e cujo desconhecimento dessa verdade a priori pode alimentar a má nostalgia do corpo do poder, de um poder incarnado. Estamos novamente às voltas com o problema do membro fantasma, que em política poderá igualmente ser chamado de “populismo”, se for tratável, em várias versões: a tentativa de preencher o lugar vazio do poder com protoplasmas, espíritos e mensagens de outro mundo, que não o nosso. Entre um e outro, naturalmente o médium, humilde detentor dessa especial comunicação. *** Em 1963 é lançado Le mépris, (O desprezo) de Jean-Luc Godard. Em parte, retrato da Europa que se inventa no pós-guerra, em parte reinvenção do próprio cinema. E não há reinvenção europeia que não comece pelo mito, pelos poemas homéricos. E o mito é sempre narração da narração. Daí a melhor estratégia: um filme dentro de um filme, a Europa por dentro do mito da Europa. Lá está Fritz Lang, na posição de deus, que do olimpo observa os homens, e como tal, Fritz Lang, deus do cinema, só pode ser o próprio Fritz Lang, o mesmo que recusou filmar para os nazistas, agora dirigindo uma versão cinematográfica da Odisseia, isto é, conduz, em versão cinematográfica, Ulisses, sob a proteção de Minerva, de volta a casa que é sua, Ítaca. Godard recoloca Fritz Lang na posição simultânea de rapsodo grego e deus do olimpo. E vai além: também é um estrangeiro, em um filme falado em várias línguas – “Pois os deuses, assemelhando-se a estranhos de terras estrangeiras, sob todas as formas, visitam as cidades para verem a insolência e a justiça dos homens”.29 Está igualmente o produtor americano, Jack Palance (aliás Jeremy Prokosch), que fala apenas sua própria língua, em sentido próprio e figurado, e que permanentemente pretende mudar a rota de Ulisses, no filme e no mito. Também há o escritor profissional, presto a levar as mentiras ao mercado, Michel Piccoli (aliás, Paul Javal), a Penélope moderna, Brigitte Bardot (aliás, Camille Javal), e a casa da era industrial com sua paleta de cores primárias. O núcleo semântico do filme, por assim dizer, aquilo que melhor organiza seu material, está dado na palavra chave: a casa. O retorno à casa, a permanência na casa, o dono da casa. A Europa, casa de quem? Do mito, que não há mais. Em como os afetos transitam entre os espaços privados, e ao trazerem o mundo para dentro de casa, atestam uma máxima universal, desde a Odisseia, inscrita no espírito do Ocidente: estamos sempre voltando para casa. Quando o mundo vem para dentro da casa, Ulisses precisa viajar, a guerra de Tróia chega à Ítaca, Agamenon cobra de Ulisses sua promessa de aliança em caso de guerra. Em O desprezo, as contas a pagar, a hipoteca da casa, contamina os itinerários privados e públicos: uma vez dentro do mundo administrado, não se volta a lugar nenhum. ***
*** Quo vadis Europa? Em Filme socialismo, (Godard, 2011), a Europa ensaiaria poder refazer a sua viagem fundadora, mas a pretensa viagem, e já não é a de Ulisses, é completamente outra. Inicialmente, há uma miríada de técnicas prosaicas de captação de imagem, técnicas ou quase técnicas ao alcance de todos. A vulgaridade da técnica não é gratuita, e incide no sentido da imagem captada: o fim do mistério anunciado em O desprezo se realiza completamente, na imagem pregnante de água lanosa, espessa, escura, que corre pelo casco de um cruzeiro qualquer. Esse mar tem uma densidade importante, mas é uma densidade contrária ao mistério, depois do mistério. Nem sereia, nem ninfas, nem as potências do mar: se, antes, Ulisses, em O desprezo ainda procurava, em cinemascope, avistar Ítaca no último plano do filme, uma Ítaca que já não havia, agora não há mais Ulisses nem sua procura, a imagem se esvazia de qualquer promessa, mesmo vã: tudo se resume ao mar sem mito em que um cruzeiro kitsch domestica a poupança dos europeus, filmado em vídeo e celular, em navio apinhado de aposentados, a ocupar o tempo livre com a mais cabal falta de mistério e de verdade. Como redescobrir a Europa, agora que ela nada mais é? A resposta oblíqua: pela periferia, que a definia: onde está Bizâncio, é longe daqui?, diz alguém perambulando pelo espaço completamente administrado do Cruzeiro Europa. O que foi feito de Bizâncio é o que foi feito de Tróia, da Palestina, da Rússia, de Espanha e Portugal, do Oriente Médio, da Síria e do Líbano? Da periferia ao centro, a pergunta pela Europa muda de corte. A Europa da geometria e seu espírito (Paul Valéry, quase ministro de Pétain?) é a Europa da origem e da invenção da origem, ainda que nada de original seja europeu. Ocorre que a Origem da Geometria (de Euclides a Husserl) deixa de ser geratriz – a lógica da figura – para ser fronteira – o que não tem nossa origem. A Europa não redobra sua história, não recobra a si mesma, olhando quem olha o mito (o pensamento selvagem). É o reconhecimento que o mito se esgotou e com ele a Europa, a única viagem possível é a viagem do dinheiro, pelo Banco Central Europeu e por outros canais ancestrais, a única aventura é a do ouro, e ele não educa nem encanta, no sentido antigo ou no novo, ele ilude quando pouco, violenta, quando muito. Não há astúcia, nem há retorno à casa. A casa foi substituída pelo cruzeiro, mil línguas não familiares e a sensação de conforto é o conforto material da produção em massa de bens de consumo. A Europa esvaziou-se de si mesma. Só há a paz da vida vegetal da abstração. A Europa é um cruzeiro kitsch, incapaz de ver que suas fronteiras continuariam Europa (a Palestina) do outro lado do Mediterrâneo, da geometria à álgebra, se Europa ainda houvesse. Bibliografia MERLEAU-PONTY, M., OEuvres, Gallimard, Paris, 2010. MERLEAU-PONTY, M., Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 1955. MERLEAU-PONTY, M., Humanisme et terreur, essai sur le problème communiste, Idées/Gallimard, Paris, 1947. MERLEAU-PONTY, M., Signes, Paris, Gallimard, Edição de Bolso, 2001. PROUST, M. À la recherche du temps perdu, Albertine disparu, Paris, NRF, Gallimard, 1989. MARX, K., Sobre a questão judaica, São Paulo, Boitempo Editoral, 2010. LEFORT, C., A invenção democrática, trad. Isabel Loureiro, São Paulo, Brasiliense, 1985. LEFORT, C., Sur une colonne absente, Paris, Gallimard, 1978. JUDT, Tony. Pós-guerra. Uma história da Europa desde 1945. Editora Objetiva, trad. José Roberto O’Shea, Rio de Janeiro, 2008. COHN, G., Crítica e resignação, São Paulo, Martins Fontes, 2003. GODARD, J.-L., Les années Karina, Paris, Champs/Flamarion, 1985. HOMERO, Odisséia, trad. Frederico Lourenço, Penguin&Companhia, São Paulo, 2011. FAUSTO, R., Sentidos da dialética. Marx: lógica e política, Petrópolis, Vozes, 2015. FAUSTO, R., “Dialética, estruturalismo, pré(pós)-estruturalismo”. In: Dialética marxista, dialética hegaliana: a produção capitalista como produção simples, Editora Brasiliense, São Paulo, 1997. FAUSTO, R., Sur le concept de Capital. Idée d’une logique dialectique. Paris, L’Harmattan, 2004.
|
fevereiro #
10
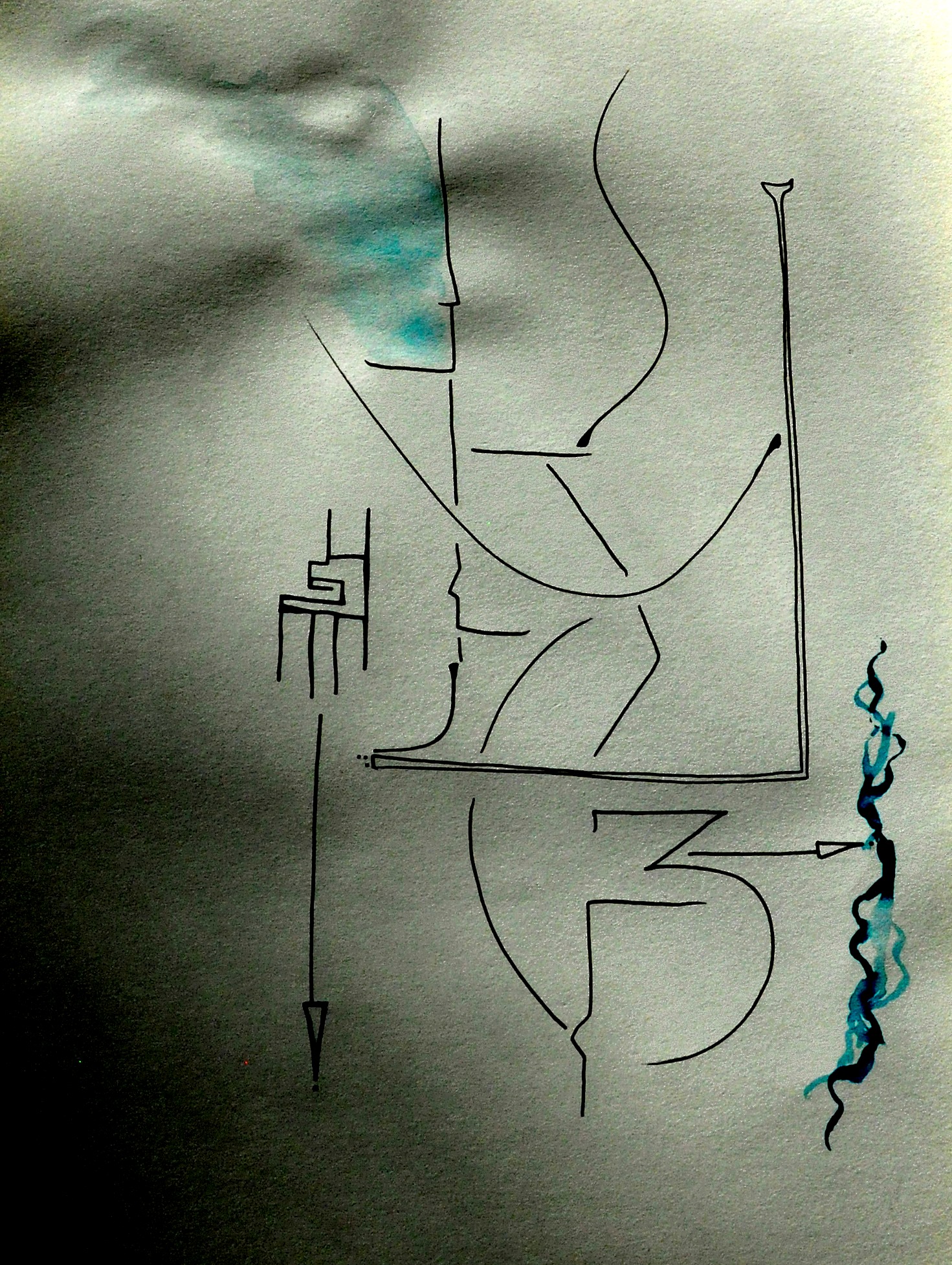
ilustração: Rafael MORALEZ
1 MERLEAU-PONTY, M., Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 1955.
2 Idem, ibidem, p. 15.
3 Idem, ibidem, p. 308.
4 Idem, ibidem, p 9.
5 “Mas o que é esse fim da história, que alguns fazem tudo depender? Supõe-se uma certa fronteira a partir da qual a humanidade cesse enfim de ser um tumult insensato e retorne à imobilidade da natureza. Essa ideia de uma purificação absoluta da história, de um regime sem inércia, sem acaso, sem riscos é o reflex invertido de nossa angústia e de nossa solidão. (…) Marx não falava de um fim da história, mas de um fim da pré-história.”, idem, ibidem, p. 12.
6 Idem, ibidem, p. 11.
7 “Não se notou suficientemente que no momento mesmo em que ele [Sartre] parecia retomar a ideia marxista de uma critério social da literature, Sartre o fazia em seus termos, os mais próprios, e que dão a historicidade nele um sentido absolutamente novo. Em “O que é a literature?”, o social nunca é causa, nem mesmo motivo, nunca está atrás da obra, ele não pesa nela, ele não dá a ela nem explicação nem desculpas. Ele está diante do escritor como o meio ou como uma dimensão de sua visada.” Idem, ibidem, p. 228.
8PROUST, M. À la recherche du temps perdu, Albertine disparu, Paris, NRF, Gallimard, 1989, p. 79.
9 MARX, K., Sobre a questão judaica, São Paulo, Boitempo Editoral, 2010.
10 LEFORT, C., A invenção democrática, trad. Isabel Loureiro, 1983, Brasiliense, p. 53.
11 MERLEAU-PONTY, M., Humanisme et terreur, essai sur le problème communiste, Idées/Gallimard, Paris, 1947.
“Nós ensaiávamos, no dia seguinte a guerra, formular uma atitude de attentisme marxista (contemporização marxista, nota de AOTC). Parecia-nos visível que a sociedade soviética estava bastante longe dos critérios revolucionários definidos por Lênin e que a ideia mesma de um critério de compromisso válido teria sido abandonada, que, em consequência, a dialética ameaçava se tornar a identidade simples dos contrários, isto é, ceticismo. Um comunismo completamente voluntarista aparecia, inteiramente fundado na consciência dos chefes, renovação do Estado hegeliano e não perecimento do Estado. Mas, qualquer que seja a “grande política” soviética, nos observávamos que a luta dos partidos comunistas é também, em outros países, a luta do proletariado, e não nos parece impossível que ela fosse, por isso, reconduzida às vias da política marxista. A URSS não é, dizemos, o poder do proletariado. Mas a dialética marxista continua a operar pelo mundo. Ela se compartimentou quando a revolução se limitou a um país subdesenvolvido. Mas se a sente presente nos movimentos operários da Itália e da França.” MERLEAU-PONTY, M., Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 1955, p. 334.
12 “A crescente rede de alianças, agências e acordos internacionais propiciava pouca garantia de harmonia internacional. Tirando proveito da perspectiva histórica, podemos hoje perceber que o Conselho da Europa, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a União Europeia de Pagamentos e, principalmente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte foram o embrião de um sistema nova e estável de relações interestatais. Documentos como a Convenção pela Proteção dos Direitos Humanos, instituído pelo Conselho da Europa em 1950, haveriam de adquirir um significado duradouro nas décadas seguintes. Porém, na época em questão, esses documentos, tanto quanto as agências que os publicavam , assemelhavam-se às alianças e ligas bem-intencionadas (e condenadas ao fracasso) da década de 1920. Os contemporâneos mais céticos tinham motivos para prestar pouca atenção em tais documentos.
Todavia, com a morte de Stalin e o fim da Guerra da Coréia, a Europa Ocidental se viu, subitamente, numa era de extraordinária estabilidade política.”
JUDT, Tony. Pós-guerra. Uma história da Europa desde 1945. Editora Objetiva, trad. José Roberto O’Shea, Rio de Janeiro, p. 252.
13 “Quel que soit , la stagnation révolutionnaire dans le monde et la tactique des Fronts populares ont trop profondément modifié les prolétariats, le recrutement et la formation théorique des partis communistes, pour que l’on puisse attendre à brève échéance un renouveau de lutte des classes à visage découvert, ou même proposer aux militants des mots d’ordre révolutionnaires qu’ils sentiraient pas. Au lieu de deux facteurs clairement circonscrits, l’histoire de notre temps comporte donc des mixtes, une Union soviétique obligée de composer avec des États bougeois, des partis communistes ralliés à la politique des Fronts populares ou, comme en Italie, arrêtés dans leur développement prolétarien par les incidences de la “grande politique” soviétique, des partis bourgeois incapables de définir une politique économique cohérente, mais, dans les pays affaiblis, conscientes de leur impuissance et vagamente acquis à un “revolutionnarisme” qui peut les conduire à des ententes momentanées avec la gauche”, MERLEAU-PONTY, M., “Pour la vérité”, OEuvres, Gallimard, Paris, 2010, p. 147.
14 MERLEAU-PONTY, M., Les aventures de la dialectique, “La crise de l’entendement”, p. 17, Gallimard, Paris, 1955.
15 Idem, ibidem, p. 19.
16 “De um modo oposto aos dois modelos teóricos que examinamos anteriormente, Max Weber faz da ação o objeto social por excelência (embora para ele nem toda ação seja social): “(…) [o] objeto específico [da sociologia compreensiva] não consiste em qualquer ‘diposição interior’ ou comportamento externo, mas na atividade (Handeln)” (Weber, 59, p. 429; idem 56, p. 305; grifado pelo autor). “(…) tanto a sociologia como a história fazem acima de tudo interpretações de caráter ‘pragmático’ a partir de encadeamentos compreensíveis da atividade” (id., ibid.). A ação pode ser coletiva, mas toda ação coletiva é de direito redutível a uma pluralidade de ações individuais. Para Weber, é um “fato elementar” “que a realidade só convém ao concreto, ao individual (Individuel) (id., ibid., p. 225). ““Para nós, não pode haver atividade (Handeln) no sentido de uma orientação significativamente compreensível do comportamento próprio, senão sob a forma de um comportameto de uma ou várias pessoas singulars (einzelnen)” [Weber] O que existe para além da realidade constituída pelas ações singulares? [O autor está resumindo a posição de Weber]. Há por um lado as regras sociais, cujo estatudo ontológico é problemático, e que de qualquer forma não são o objeto da sociologia, mas da ciência juridica. Por outro lado, a partir das ações como realidades que em última instância remetem sempre ao singular, pode-se e deve-se construir os tipos ideais. Mas os tipos ideais não são estruturas objetivas, e isto porque nem são estruturas nem têm objetividade. Os tipos ideais não “desdobram” a realidade como as regras de uma língua, à maneira do estruturalismo, ou como uma segunda linguagem, à maneira da dialética. Eles são formas puras ou purificadas do real.”, FAUSTO, R., Dialética marxista, dialética hegaliana: a produção capitalista como produção simples, “Dialética, estruturalismo, pré(pós)-estruturalismo”, pp. 146-147. Editora Brasiliense, São Paulo, 1997.
17Que se veja também o seguinte:
18“Assim, não há atributos intrínsecos aos fenômenos que permitam o seu conhecimento pleno através das supostas evidências ensejadas por alguma forma de captação intuitiva. Definitivamente, e isso nunca será demais enfatizado, a compreensão não diz respeito às personalidades dos agentes, muito menos a quaisquer “vivencias”, mas às suas ações. A Weber não interessa a vivência dos sujeitos, mas sua experiência. Vale dizer, também não lhe interessam suas ações de per si, mas sim o estabelecimento de nexos causais entre várias ações do mesmo agente (típico) ou entre as ações de vários sujeitos diversos, nem mesmo contexto. Daí a importância, nesse ponto, do conhecimento “nomológico” do pesquisador, pois o que importa é transcender a ação singular como puro evento. Daí também a importância dos procedimentos envolvidos no tipo, pois do contrário não há como transcender a pura realidade empírica vivida, que é um fluxo inesgotável de eventos singulares (um “contínuo heterogêneo” para usar a linguagem de Rickert, que aqui cabe). Tomado de per si o universo dos eventos singulares é puramente contingente; mas, mas como os homens criam valores e são capazes, em função desses, de atribuir significado à sua conduta, está aberto o caminho não só para a racionalidade da ação como também para seu conhecimento pelas vias racionais próprias ao método científico”. COHN, G., Crítica e resignação, p. 123. São Paulo, Martins Fontes, 2003.
19 Op. cit., p. 137 e ss.
20 Vejamos. “L’idée générale qui, bien entendu, venait de Hegel, était que, à la différence de ce qu’on trouve dans la logique formelle, le jugement devait être pensé, en general, comme un mouvement de réflexion (pouvant ausse se présenter, comme nous le verons, comme non réflexion) du sujet dans le prédicat. Dans la première forme ainsi dégagée, que nous désignions comme “jugemnt de réflexion”, forme canonique en quelque sorte, le sujet est présupposé et se réfléchit dans un prédicat qui, seul, est posé.”, FAUSTO, R., Sur le concept de Capital. Idée d’une logique dialectique. Paris, L’Harmattan, p. 8.
21Seguimos: “Dizíamos que do ponto de vista dialético, como também, mas em sentido diferente, para o estruturalismo, o social pode ser pensado como análogo da linguagem. Dizer que o social para a dialética é análogo a uma linguagem entendida como fluxo de significações é supor que o social é pensável em termos de juízos.” FAUSTO, R., Dialética marxista, dialética hegaliana: a produção capitalista como produção simples, “Dialética, estruturalismo, pré(pós)-estruturalismo”, p. 153. Editora Brasiliense, São Paulo, 1997.
22 Idem, ibidem, p. 40.
23 FAUSTO, R., Sentidos da dialética. Marx: lógica e política, p. 56, Petrópolis, Vozes, 2015.
24 MERLEAU-PONTY, M., Les aventures de la dialectique, “Sartre et le ultra-bolchevisme”, p. 143. Paris, Gallimard, 1955.